Rolling Stones: O dia em que eu vi o Rock
Resenha - Rolling Stones (Morumbi, São Paulo, 27/02/2016)
Por Gabriel Schincariol
Postado em 03 de março de 2016
A maior banda do mundo tocou. E eu estava lá.
Rolling Stones - Mais Novidades
Você não precisa ser um fã de rock para conhece-los, na verdade nem precisa ser muito ligado em música como um todo. Basta estar vivo, respirando e com as faculdades mentais funcionando nos níveis regulares para saber quem são os Rolling Stones. É quase impossível que você não tenha ouvido pelo menos uma música deles, aquela mais famosa que todo mundo conhece. Se te falarem o nome é capaz de você dizer que não, nunca ouviu, não se lembra, mas bastará escutar os primeiros acordes da guitarra de Keith Richards em Satisfaction para reconhecer a canção que é um dos maiores sucessos de todos os tempos – dos Stones, do rock, da música, o que quase se confunde.
Eles tocam desde a década de 60. Mick Jagger, Keith Richards e Charlie Watts estão juntos desde 1963. Ronnie Wood veio depois, mas já está lá tem mais tempo do que muita gente tem de vida. É por isso que todo mundo sabe quem eles são. Eles são a banda da língua. Se você não gosta de rock ou não gosta especificamente dos Stones, você dirá que é um bando de velhos sem graça. Se você não liga muito para essas coisas, você irá se perguntar: mas nossa, ele tem 70 anos e pula desse jeito no palco? (a resposta é sim) Agora, se você for como eu, bem, eu vou tentar explicar o que você dirá, dizendo eu mesmo. Porque os Stones são a maior banda de rock do mundo. E ele são a minha banda favorita.
Desde que saíram as notícias sobre a America Latina OLÉ Tour, que incluía o Brasil, eu fiquei ansioso. Quando eles fizeram o show gigantesco nas areias de Copacabana – de graça, ainda -, minha mãe foi. E não me levou. E isso foi bem triste para mim. Eu sabia que essa seria provavelmente a minha última chance de vê-los ao vivo, além de ser a primeira. O mais novo dos caras tem 68 anos! Não teria como perder essa oportunidade. Eu li sobre eles. Eu escutei suas músicas. Eu vi seus vídeos, documentários. Eu vi seus traços em outras bandas, eu vi a influência deles no rock n’ roll que se seguiu. Eu ouvi You Can’t Always Get What You Wan’t um milhão de vezes. Então eu vi que eles fariam um show no Brasil, em São Paulo. Seria caro pra caralho. E eu pagaria por isso.
Comprei o ingresso, pista, meia. Convenci minha namorada a ir também – que se encaixaria melhor (pelo menos antes do show) na categoria daqueles que perguntam: mas nossa, ele tem 70 anos? Ela também pagou caro. Depois dessa primeira euforia, foi foda aguentar a ansiedade. Um amigo, que também coloca os Stones como número um na lista de bandas, dividiu comigo esse processo, regado a listas do spotify e Bavária de R$1,68 do supermercado. Dia 24 de fevereiro de 2016. Tinha chegado.
Eu e a Marina, minha namorada, decidimos (mais eu do que ela) chegar as duas e meia no Estádio para esperar na fila até a abertura dos portões, às quatro. Atrasamos, chegamos as três e quinze. O Miguel, aquele amigo da Bavária, já estava na fila da pista premium tomando chuva. Entramos na fila com a mochila nas costas, os dois com a camiseta da língua; a minha, preta, a dela, cinza. Conheci o Eli, fã de rock de longa data. Estava ansioso. Foi no show do Queen, logo antes da morte do Mercury. Por acaso minha mãe também estava lá. Disse que era por momentos como aquele que nós vivíamos. Você tinha toda a razão, Eli.
Uma puta chuva não parava de cair, fazendo a alegria dos vendedores de capas de plástico. Ela ia e voltava, mais forte e mais fraca. Uma hora pensamos que tinha parado e tiramos a capa. Ficamos assim até a abertura dos portões, quando os policias disseram que água não entraria e nossas seis garrafinhas fechadas foram para o lixo junto com um monte de barrinha de cereal. Tudo bem, nós estávamos entrando. Revistados, ingressos conferidos, estávamos dentro do estádio. O palco gigantesco montado. A grade – não tão perto quanto gostaríamos, mas tão perto quanto o orçamento permitiu – ainda vazia. Fomos para lá, sentamos e esperando. O show só viria as nove da noite.
Claro que começou a chover de novo, claro que colocamos a capa, então parou, então tiramos, aí voltou, ai colocamos. Assim foi. Uma cerveja para cada, mais as três que eu já tinha tomado fora. Péssima ideia para a bexiga, e eu comecei a ficar nervoso de ter que sair de lá muito perto do show, deixando a Marina sozinha e sem conseguir voltar. Fui antes que a pista lotasse até o banheiro químico mais próximo e depois disso fiz um acordo de cavalheiros com a minha bexiga, que se comportou muito bem. Não tomei mais cerveja – além de tudo, custava dez conto uma lata (pelo menos dava direito a um copo bonito).
Deu sete em ponto e o Titãs, banda de abertura, começou a tocar. Fizeram um bom trabalho, tocaram seus clássicos de maneira segura e bem à vontade. O som não era dos melhores, a maior parte das caixas ainda estava desligada e os recursos visuais ficaram todos reservados para as estrelas da noite. Depois de 45 minutos do bom rock nacional, eles se despediram. A próxima banda que subiria naquele palco seria a que nasceu lá em 60. Uma tal de The Rolling Stones.
Pareceu que essa uma hora e quinze de espera demorou mais que todo o tempo desde as quatro da tarde. Trocentas pessoas passaram pelo palco secando, arrumando equipamentos, testando luz, mexendo nisso, mexendo naquilo. A chuva ia e voltava, as vezes mais fraca e as vezes como uma pancada. A equipe do show era valente com seus rodos e paninhos, secando os caminhos para que Mick Jagger operasse sua mágica. O tempo passou e deu nove da noite. Eles não entraram no palco.
Cada minuto depois das nove era uma agonia. Provavelmente por conta da chuva tudo ficou atrasado. Nove e três, nove e quatro, nove e cinco... Não eram nem nove e quinze quando a música ambiente parou de tocar. Foi só isso que precisou para aquele Morumbi lotado com mais de 60 mil pessoas começasse a berrar.
As luzes do palco se apagaram e o telão acendeu com um clipe da turnê, ao som de um eletrônico. Fotos antigas, mapas, Uruguai, Argentina, Brasil. São Paulo. 24 de fevereiro de 2016. Morumbi. "Bem vindos, Brasil!" apareceu no telão. E a voz berrou no microfone: LADIES AND GENTLEMAN... THE ROLLING STONES! Puta que pariu, eu estava lá e os Stones iam tocar. Eu pensava isso junto com as outras 60 mil pessoas, em transe, gritando e pulando enquanto esperavam pelo momento. A chuva notou a importância do momento que chegava, retornou para as coxias. Chegou. Chegou com a guitarra do homem que desafiou toda e qualquer ciência médica com seus mais de 70 anos de idade, um rosto marcado pelo tempo, pelas drogas e pelo eterno cigarrinho pendendo entre os dedos com calos gigantescos nos nós. Esses dedos tocaram os primeiros acordes da noite. Keith Richards deu o tom da abertura ao som de Start Me Up, acompanhado pelo simpático e brilhante Ronnie Wood e sua guitarra, na batida do impassível Charlie Watts em sua bateria. Com os quatro no ponto, Jagger deixou claro o que aconteceria pelas próximas duas horas na sua voz inconfundível: if you start me up, if you start me up, I’ll never stop. Vocês começaram em 60, Stones, e nós nunca mais vamos parar.

Quando vi o Jagger entrando pelo palco correndo e pulando, como já tinha visto tantas vezes em vídeos na internet e documentários sobre a banda, fiquei com a garganta entalada. Lá vinha aquele homem cantando, lá tocava a maior banda de rock do mundo bem na minha frente. Lá estava Keith Richards com uma faixa segurando seus cabelos brancos e desgrenhados, no rosto a tranquilidade de quem toca entre amigos, um senhor simpático e risonho. Lá estava Ronnie Wood, enérgico e gentil com o público, genial emanando os acordes pelo estádio completamente alucinado. Na bateria, Charlie Watts.
O homem com mais classe do mundo do rock, o homem que já foi considerado uma das celebridades mais bem vestidas do mundo. Ele parecia estar tocando em sua casa, sozinho. Impassível. Intocável. Incorrigível. De camiseta amarela, ditava o ritmo da banda a partir da sua bateria, com seu estilo maravilhoso de tocar, como um baterista numa banda de jazz que toca em um bar inglês. O mesmo Charlie Watts que, diz a lenda, um dia socou o nariz de Mick Jagger na época mais turbulenta da banda, quando Mick e Keith se matavam entre si, nas drogas e nas próprias loucuras. Jagger teria ligado para o quarto de hotel de Watts durante uma turnê e, claramente alucinado, dito para ele ir até o seu quarto, perguntando "onde está o meu baterista?". Charlie, então, teria se levantado, feito a barba, colocado seu elegante terno, ido até o quarto onde estavam Jagger e Richards, batido na porta e, ao ser recebido pelo vocalista e fundador dos Stones, teria dado um belo de um soco naquela cara de boca grande, jogando Mick por cima de Keith e dizendo "Nunca mais me chame de seu baterista. Você que é o merda do meu vocalista!". Virou-se e foi embora, com a mesma feição de sempre. Se é verdade ou não, eu não sei, mas certamente Mick Jagger sabe que Watts não é "só" o baterista.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
A sensação de estar lá, naquele momento, foi me invadindo. Enquanto a banda tocava It’s only rock and roll (but I like it!), eu segurava o choro. Eu estava diante do Rock. Como se fosse uma instituição. Um monumento. Um artefato. Uma obra de arte. Eu estava diante da história, e ela se passava diante dos meus olhos, entrando pelos meus ouvidos. A história de um dos gêneros mais gloriosos dentro da música. A história de um moleque magricela de boca grande, bem instruído e bem educado, que estava entrando no metrô com um disco do Chuck Berry embaixo dos braços e, ao ver um tipo mal encarado com botinas de caubói vindo em sua direção, segurou aquele LP com mais força por medo de ser roubado. Mas era Keith Richards, seu amigo de infância. A história de Keith ficando surpreso e dizendo "Não, cara, não acredito que você ouve isso aí!". A história dos dois indo para a casa do Keith e ouvindo Chuck Berry e Muddy Waters sem parar. Pegando uma guitarra, tocando a música dos gigantes do blues, imitando suas vozes. A história da maior banda de rock do mundo. A história da maior banda.

Todos no estádio foram arrebatados pela simpatia de Jagger e seu português engraçado, falando E aí, moçada! Tudo bem, Sampa? Porra, é claro que está tudo bem! É a porra do Mick Jagger! Mandou até beijinho no ombro. Tocando Out of Control, contou com o coro da plateia. 60 mil vozes entoando o Uh-uh-uhhh, uh-uh-uhhh da música que não é das mais famosas do grupo. Eu estava em êxtase. Now I’m Out, oh Out!, of Control. Todos estávamos fora de controle. Uivando com os Stones, não havia mais nada que pudéssemos fazer.
O show continuou com músicas icônicas, como Paint it Black e Honky Tonk Women. A pausa veio para apresentar a banda. Primeiro, os brilhantes músicos de apoio, no sax, no baixo, no piano, no backing vocal. Depois, os quatro. Primeiro, Ronnie Wood. Delírio, voltando para seu cigarro ao fundo do palco. Charlie Watts, entrando tímido sob os aplausos enlouquecidos de nós todos, dando um tchauzinho e sorrindo com o canto da boca. A explosão veio quando Jagger anunciou: na guitarra e no vocal (em português), Keith Richards. O Morumbi entrou em catarse. Gritos, palmas, uivos, assovios. Durante mais de um minuto, ele foi ovacionado. O guitarrista, o deus, o mito ficou emocionado. Obrigado, amigos, disse em português, com o cigarro entre os dedos. Risadinha, logo depois. Acenou. Ninguém parecia disposto a parar de aplaudir. As palmas só pararam quando ele, bem humorado, lembrou: I’ve got a show to do!, dando aquela risadinha clássica em sequência. Pegou o violão e, sem Jagger, tocou You got the silver, na sua voz rouca e gasta pelo cigarro, a melodia perfeita para o momento. Emendou Happy com sua guitarra e todos admiraram o gênio fazer o que ele faz de melhor. Ao terminar, voltaram as palmas. Keith Richards estava em casa. Estava na música, seu habitat natural.

Jagger voltou e continuou a comandar o espetáculo, com as espetaculares Gimme Shelter e Brown Sugar, fazendo todo mundo se mexer e cantar. Com uma capa de plumas vermelhas, Sympathy For Devil deixou todo mundo de coração acelerado pelo seu ritmo divertido e sombrio ao mesmo tempo. Quando pediu: hope you guess my name, Mick Jagger tinha certeza de que todos sabiam qual era. Jumping Jack Flash é, por si só, uma obra prima. Ouvi-la ao vivo é um acontecimento quase divino, uma experiência extraterrestre. Eu, os famosos que estavam na área vip à minha frente, todos lá sentiram correr nas veias a música, o rock. A criação fantástica de Mick Jagger e Keith Richards. Jagger já havia dito no show o que era aquele momento: do cacete! Do cacete. Incomparável.

Disseram tchau e saíram do palco, mas não havia terminado. Logo o coral começou a cantar a introdução mística de You Can’t Always Get What You Want, e quando as luzes se acenderam, lá estavam os Stones novamente. Pediram para que cantássemos juntos, e acompanhamos. Era transcendental. A garganta já ficava entalada de novo. Are you ready for a little bit more?, perguntou o inglês que dá azar para times de futebol. A resposta? Porra. Mas é claro.
Então, para fechar uma noite memorável, o hino mais famoso da banda mais famosa: Satistfaction. Foi só começar o riff pelos dedos do Keith Richards que todo mundo começou a pular. Você conhece essa música, seja lá quem você for. Você simplesmente conhece. Você é capaz de cantar I can’t get no satisfaction, porque ela é mundial, porque ela é uma música do caralho. E foi assim, sob a bênção das mãos erguidas das mais de 60 mil pessoas, que os deuses aparentemente imortais se despediram, abraçados, sorrindo. Uma banda com mais de 50 anos de existência, uma banda que passou por momentos terríveis, por brigas gigantescas e rompimentos que pareciam incontornáveis, uma banda que moldou o rock n’ roll estava lá, abraçada, diante de nós. O que passou ficou para trás. As intrigas entre Mick Jagger e Keith Richards são parte do passado, o soco na cara dado por Charlie Watts é história, o vício em drogas que quase levou Ronnie Wood para o outro plano virou anedota de biografia. Lá estavam eles. Abraçados, sorridentes. Fazendo história. Ah, caralho. Não, fazendo, não. Lá estavam eles. Sendo a história.

Lá nos idos de 1960 alugavam, em Edith Grove, um apartamento miserável Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones. No meio da sujeira, maconha, cigarro e álcool se consolidava uma banda de amantes do blues. Mais de 50 anos depois, em 24 de fevereiro de 2016, Mick e Keith ficavam lado a lado para tocar no Morumbi lotado. Lotado para ver os dois. Para ver Ronnie. Para ver Charlie. Para ver a história. Para ver o rock. Para ver os Stones.
E eu vi. Porra, eu vi.

Outras resenhas de Rolling Stones (Morumbi, São Paulo, 27/02/2016)
Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 Lenda do thrash metal alemão será o novo guitarrista do The Troops of Doom
Lenda do thrash metal alemão será o novo guitarrista do The Troops of Doom Mamonas Assassinas: a história das fotos dos músicos mortos, feitas para tabloide
Mamonas Assassinas: a história das fotos dos músicos mortos, feitas para tabloide O disco ao vivo que define o heavy metal, segundo Max Cavalera
O disco ao vivo que define o heavy metal, segundo Max Cavalera A lendária banda inglesa de rock que fez mais de 70 shows no Brasil
A lendária banda inglesa de rock que fez mais de 70 shows no Brasil As músicas que o Iron Maiden tocou em mais de mil shows
As músicas que o Iron Maiden tocou em mais de mil shows Dee Snider revela quem além de Sebastian Bach poderia tê-lo substituído no Twisted Sister
Dee Snider revela quem além de Sebastian Bach poderia tê-lo substituído no Twisted Sister As melhores bandas que Lars Ulrich, do Metallica, assistiu ao vivo
As melhores bandas que Lars Ulrich, do Metallica, assistiu ao vivo Venom anuncia novo álbum de estúdio, "Into Oblivion"
Venom anuncia novo álbum de estúdio, "Into Oblivion" Fã de Rita Lee no BBB pede show da cantora, e se espanta ao saber que ela faleceu
Fã de Rita Lee no BBB pede show da cantora, e se espanta ao saber que ela faleceu Ouça Sebastian Bach cantando "You Can't Stop Rock 'N' Roll" com o Twisted Sister
Ouça Sebastian Bach cantando "You Can't Stop Rock 'N' Roll" com o Twisted Sister As cinco piores músicas do Iron Maiden, segundo o Loudwire
As cinco piores músicas do Iron Maiden, segundo o Loudwire O "pior músico" que Paul McCartney disse que os Beatles já tiveram
O "pior músico" que Paul McCartney disse que os Beatles já tiveram Rafael Bittencourt elogia Alírio Netto, novo vocalista do Angra; "Ele é perfeito"
Rafael Bittencourt elogia Alírio Netto, novo vocalista do Angra; "Ele é perfeito" O guitarrista que moldou o timbre do Metallica, segundo James Hetfield
O guitarrista que moldou o timbre do Metallica, segundo James Hetfield Rafael Bittencourt diz que estava se reaproximando de Andre Matos antes da morte do vocalista
Rafael Bittencourt diz que estava se reaproximando de Andre Matos antes da morte do vocalista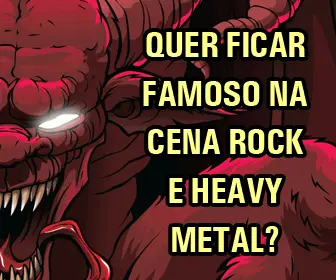
 Kerrang!: os 100 melhores álbuns de Rock em lista da revista
Kerrang!: os 100 melhores álbuns de Rock em lista da revista Quando Lou Reed revelou seu disco de rock favorito; "Impossível bater de frente com ele"
Quando Lou Reed revelou seu disco de rock favorito; "Impossível bater de frente com ele" O dia que Kurt Cobain ligou para Max Cavalera para saber onde poderia descolar drogas
O dia que Kurt Cobain ligou para Max Cavalera para saber onde poderia descolar drogas



 10 clássicos do rock que soam ótimos, até você prestar atenção na letra
10 clássicos do rock que soam ótimos, até você prestar atenção na letra O guitarrista que Slash acabou descobrindo que "copiava sem perceber"
O guitarrista que Slash acabou descobrindo que "copiava sem perceber" Um dos maiores sucessos dos Stones, descrito como "porcaria" por Keith Richards
Um dos maiores sucessos dos Stones, descrito como "porcaria" por Keith Richards Cinco clássicos do rock que você reconhece nos primeiros segundos e já sai cantando
Cinco clássicos do rock que você reconhece nos primeiros segundos e já sai cantando A maior banda de rock de todos os tempos, segundo Mick Fleetwood
A maior banda de rock de todos os tempos, segundo Mick Fleetwood Hulk Hogan - O lutador que tentou entrar para o Metallica e para os Rolling Stones
Hulk Hogan - O lutador que tentou entrar para o Metallica e para os Rolling Stones Joe Perry explica o erro dos Beatles que os Rolling Stones por pouco não cometeram
Joe Perry explica o erro dos Beatles que os Rolling Stones por pouco não cometeram As 20 melhores músicas dos anos 2020, de acordo com o Ultimate Classic Rock
As 20 melhores músicas dos anos 2020, de acordo com o Ultimate Classic Rock Brian Jones escondia dos Stones que ganhava mais dinheiro e espancava fãs?
Brian Jones escondia dos Stones que ganhava mais dinheiro e espancava fãs? Produtor descreve "inferno" que viveu ao trabalhar com os Rolling Stones
Produtor descreve "inferno" que viveu ao trabalhar com os Rolling Stones A primeira noite do Rock in Rio com AC/DC e Scorpions em 1985
A primeira noite do Rock in Rio com AC/DC e Scorpions em 1985 Em 16/01/1993: o Nirvana fazia um show catastrófico no Brasil
Em 16/01/1993: o Nirvana fazia um show catastrófico no Brasil
