Mídia e Rock Nacional
![]() Por Karina Kosicki Bellotti
Por Karina Kosicki Bellotti
Postado em 07 de novembro de 1999
"Que força é essa que liberta os jovens de hoje do abutre
cotidiano e os transforma em senhores imaginários
de um planeta utópico chamado vida?"
(Valverde,M.E. in Souza 1995 : 51)
Ladies And Gentlemen : Thy Majesty, Rock And Roll!
A proposta desse trabalho é um ensaio sobre o rock nacional, mas ele merece muito mais do que isso. Não por ser rock nem por ser nacional, e sim por constituir uma produção cultural crucial para os jovens da geração dos anos 60 aos 90, ainda bastante desdenhada pelos meios acadêmicos, que vestem jeans, porém não se dobram à irreverência e aparente falta de lógica do discurso descabelado juvenil.
Para tanto, o enfoque será a geração do rock dos anos 80 que começou, na verdade, no fim dos anos 70 e embalou a garotada até o fim dos 80 para ressurgir ao final dos 90 em um surpreendente revival – diga-se de passagem, de algo que não sumiu, apenas ficou bastante enfraquecido com o brilho de outras tendências musicais como o sertanejo, o axé, o pagode, a dance music. Optei por discutir uma bibliografia mais específica, utilizando não somente livros, mas também uma das principais fontes sobre rock no Brasil, que é a imprensa escrita (e por que não falada?, pois foi por meio de muitos Som Pop’s que aprendi a gostar da coisa).
Não seria o ensaio um espaço mais digno para se tratar de forma séria (mas não sisuda) um tema tão pertinente? Certamente. Contudo, o rock continua carecendo de uma consideração maior de seus contemporâneos.
Cada silêncio desvela uma história que está para ser contada e um preconceito a ser derrubado. A questão do valor musical afastou muitos historiadores desse barulhento rebelde, consagrando outros gêneros mais bem "apessoados" para apresentação: a MPB, o jazz (quando ele já havia virado algo de acesso mais restrito, obviamente), o Samba e a música folclórica (raízes), o Clássico. A Coca-Cola musical, presente em todos os lugares, inventada nos Estados Unidos, contendo uma fusão misteriosa ("demoníaca" diriam os branquelos puritanos) que cativa onde se instala não deve ter sido mera jogada de marketing imperialista, muito menos uma idéia fora do lugar que invadiu e tomou o planeta de assalto a partir dos edulcorados anos 50.
Definir "Rock" é muito difícil se considerarmos todas as faces que ele assumiu desde o seu nascimento – cujo marco de nascimento real é incerto, reservando-se apenas à primeira transmissão de Rock Around the Clock de Bill Haley, em meados de 1955. Por isso, prefiro tratar do rock nacional como um todo, como gênero ligado às manifestações do rock internacional, mantendo especificidades históricas que não se traduzem apenas no som, mas na atitude de seu cenário: músicos, críticos e públicos.
A única generalização que podemos fazer sobre o rock é que foi sempre um camaleão, muito antes de David Bowie. Música popular universal e nacional, trouxe a simplicidade às massas hormonais das cidades, cantando em diversos sotaques uma língua que se uniformizava cada vez mais por meio do rádio, da televisão, do cinema, da imprensa: os prazeres e as agruras da adolescência, item recém-descoberto entre a infância e a idade adulta, que permitia uma série de ensaios para a vida futura séria e comportada.
Temos três problemas de análise: a) encarar o rock como arte e como produto da indústria cultural, o que implica considerá-lo como b) portador de uma mensagem, mesmo que aspire ao descompromisso com engajamento político ou social – e mesmo cultural; perpassando pela c) questão da recepção do que vem de fora, na construção da própria identidade do rock nacional, questões que perpassam todo o trabalho e não serão tratados em tópicos específicos.
Será o rock coisa de adolescentes? Será uma atitude cuja música é apenas trilha sonora para uma história que tem fim aos 21 anos? Ou ela é parte de uma mudança de atitude perante a vida em tempos "pós-modernos"? Qual o alcance da sensibilidade musical na vida de cada um de nós? São questões que intento trabalhar nesse ensaio, não obedecendo a uma ordem cronológica, e sim temática, a partir dos conhecimentos sobre rock que venho modestamente recolhendo desde da minha adolescência – que ainda não acabou.
Um sinônimo para o rock seria "rebeldia", "libertação" (mais do que liberdade), "desafio", "divertimento". A cultura rock poderia se caracterizar como tudo que se organiza em torno do som rock e que organiza esse som, incluindo não só a música ou a mensagem que traz, mas o circuito de consumo, adoração e detração. Atitude por detrás do som e para além.
No Brasil dos anos 80, Blitz, Ritchie, Lobão, Lulu Santos, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, RPM, Legião Urbana, Engenheiros do Hawaii, Kid Abelha, Ira!, Capital Inicial, Camisa de Vênus, Inocentes, Plebe Rude, Biquíni Cavadão, Nenhum de Nós, etc., responderam cada qual de sua forma pelas múltiplas faces do rock/pop.
Nos anos 90, Titãs, Paralamas, Legião Urbana, Ultraje, Ira!, Kid Abelha continuam, com maior ou menor sucesso. Convivem com uma nova geração que recebeu o bastão de quem se foi, trilhando os caminhos abertos pelos veteranos. Chico Science & Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Skank, Pato Fu, Raimundos, Second Come, Devotos do Ódio, Pin Ups, Karnak, Charlie Brown Jr., Planet Hemp, Killing Chainsaw, Os Ostras, Paulo Francis Vai Pro Céu, Loop B, Brincando de Deus, Concreteness, Yo-Ho-Delic e muitos, muitos outros.
Uma falha minha nesse ensaio é que deveria ter escolhido alguns exemplos de bandas para melhor desenvolver as questões. O que constatei é que o rock das anos 80 faz muito mais parte da minha infância do que adolescência: fui fã de Rita Lee e de Titãs, e poderia desenvolver o trabalho sobre os dois ícones do rock paulistano. Seria insuficiente, porém.

Proponho, portanto, trabalhar com dois quadros panorâmicos: o rock nacional dos anos 80 e 90. Ainda assim, creio que faltaria muita coisa. Não esperem análises profundas sobre letras nem sobre discos e artistas específicos, mas uma breve passagem sobre questões acerca da divulgação da cultura rock no Brasil – o que implica também passar por questões pertinentes à produção e à assimilação dessa cultura.
Usarei dois autores como referência: Arthur Dapieve, ex-baterista de bandas punk amadoras, é jornalista carioca e acompanhou de perto o nascimento do BRock, e Antônio Marcus Alves de Souza, comunicólogo da UnB.
Smells Like Teen Spirit – Anos 90
Se antes o rock viajava de Bizz, agora a "SHOWBIZZ é a revista para quem gosta de música, sem preconceitos" (p.3). Pedro Só, redator-chefe do novo formato que o periódico adquiriu com a ida para a Editora Abril em 1995, esclarece na edição 160, de novembro de 1998: "esta edição coroa um processo de mudanças editoriais. Na capa, a foto de Ricardo Fasanello mostra Carlinhos Brown e Marisa Monte como mestre-sala e porta-bandeira. É uma bonita imagem, que pode chocar roqueiros mais radicais, mas que marca uma nova fase, mais plural, ampla e democrática nestas páginas" (idem).
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
A tese de Alves de Souza, apesar de ser de 1995, restringiu-se a analisar as publicações da BIZZ até julho de 1992, quando a revista completou sete anos. Eu proponho estender a análise, pois muitas pedras rolaram até esse ano de 1999, principalmente com a mudança editorial anunciada.
Teria essa abertura possibilitado a edição do mês seguinte, cuja capa anunciava "A volta dos anos 80", com um simpatia para com as bandas do BRock que elas não experimentavam há muito?
Talvez sim, ao menos se considerarmos que essa mudança vem sendo operada desde antes de a BIZZ ter virado SHOWBIZZ. Uma mudança significativa ocorreu na edição 94, de maio de 1993, que estampava não somente um logotipo novo mas um projeto gráfico e editorial reformulado, com a reportagem de capa apresentando "a nova cara da Música Pop Brasileira". O redator chefe da época, André Forastieri, enfrenta orgulhoso as críticas de que a revista foi alvo: "jornalistas se surpreendem com a ousadia dessa capa. Publicitários se admiram com o novo visual da revista. Artistas dão graças aos céus pelo espaço ampliado para a música nacional. (...) Ao mesmo tempo, tem gente achando que fomos longe demais. (...) Discordo. para mim, as duas primeiras leis sagradas do jornalismo são: a) nunca subestime o leitor; b) nunca faça média com o leitor" (p.6).

Proposta, portanto, de trazer aquilo que ele quer e também o que ele quer e não sabe. O espaço para bandas nacionais foi significativo, em especial pela própria euforia do rock alternativo nos Estados Unidos (com o estouro internacional do Nirvana e das bandas da cidade de Seattle – antes somente conhecida por gerar Jimi Hendrix e os aviões Boeing) e na Inglaterra (ainda que o hype viesse mais para frente, com o estouro do Oasis e o britpop). A relação da imprensa com os figurões do rock nacional era, por sua vez, repleta de brigas e reconciliações, amores e ódios efêmeros ou eternos.
Isso porque 1992 foi um ano em que nenhum dos grandes do rock nacional havia "dado as cartas" nas paradas nem nas vendas. Enquanto isso, a produção independente pululava, tomando conta de rádios locais e circuitos regionais de shows (BIZZ, ed.89, dez.92). A explosão de Seattle, animada pela própria imprensa (como relata, dentre outras coisas, o livro "Barulho" , de André Barscinski, outro jornalista da BIZZ, que colabora em vários veículos e hoje é editor da Tripp), deu esperanças a quem estava na "garagem" e queria se tornar visível para além da própria vizinhança.

Não somente a alternativo "de lá" ganhou o carinho dos jornalistas (sempre mais próximos das fontes do que os leitores), deixando muitos leitores curiosos sobre a produção do "subterrâneo" internacional, como o próprio alternativo nacional foi alvo de maiores atenções. Percebia-se uma grande crença na concretização de um espaço alternativo como nos moldes do espaço internacional, constituído a partir da emergência do punk e seu lema do-it-yourself.
A preocupação era fazer o jovem enxergar além daquilo que a grande mídia oferecia, seja metralhando sucessos em vendagens e embevecendo os ratos de porão, como o contrário. Uma imprensa que, desde o início aliás, não veio para explicar, mas para confundir. O que evoca a questão da coerência nessa imprensa musical: cobrar coerência de uma publicação como a BIZZ ou de seus colaboradores em geral (que dão as caras na Folha de São Paulo, no Estadão, e em outras suplementos) requer definir o que se entende por coerência. Será que podemos analisar o pensamento desses jornalistas tal como fazemos quando nos deparamos com a obra de um cientista social, um historiador?

Vimos que há vários tipos de coerência na crítica musical. Uma que visava um plano revolucionário de conscientização, outra nacionalista a fim de preservar as "raízes" musicais do Brasil. As duas aparentadas, que não servem para olhar a mutante cultura rock como ela gostaria de ser olhada – um filho da arte de massa, e não da invasão imperialista ou do projeto entreguista. Não é arte contemplativa, não é música simplesmente, mas um conjunto de modos de se encarar a vida e a diversão: crítica e fruição, não nos esqueçamos disso.
É lógico que uma argumentação mais coesa e um texto melhor escrito nunca são demais, em qualquer lugar. Por vezes nos deparamos com artigos de pessoas que não demonstram claramente sua opinião, caindo em contradição e desafiando a inteligência dos leitores. Alves de Souza alerta, porém, que não se pode esperar que essas pessoas discutam seriamente a música rock como a Sagração da Primavera, de Stravinsky (1995 : 880), pois ela é apenas um elemento de todo o universo pop. Para isso existem as revistas especializadas em instrumentos musicais (como a "Guitar Player", já em versão nacional). A matéria-prima do rock, ao contrário do que pensam os que ouvem Pink Floyd ou Emerson, Lake and Palmer (como os jovens que os ouviam há 25 anos), não é a música. Se não, os conservatórios e as faculdades de música estariam fornecendo roqueiros aos montes. A matéria-prima do rock é a emoção, tanto do músico quanto do público (seja esse público uma grande parcela dos jovens como os próprios críticos, que não deixam de ser jovens na sua maioria). Emoção que não veio para mudar os rumos da Humanidade; sentimento de diversão que não nos deixa ficar sérios nas 24 horas de nosso dia, por mais séria que seja nossa vida. Emoção que também é tristeza, melancolia, desespero, trilha sonora de nossos momentos mais sublimes e mais abismais. Toca a cada um de nós, habitantes de um mesmo universo urbano, indivíduos e massa em plena mutação para uma sociedade de controle*.

Há os que fizeram da diversão alheia sua profissão. Uma questão que Alves de Souza não trata, pois não tem relação com o rock dos 80 e, sim, a realidade dos anos 90: a implantação da MTV Brasil.
I Wanna My MTV!
Há os que fizeram da diversão alheia sua profissão. Uma questão que Alves de Souza não trata, pois não tem relação com o rock dos 80 e, sim, a realidade dos anos 90 : a implantação da MTV Brasil.
A mídia voltada para os jovens no Brasil começou a ter seu êxito com programas televisivos como a "Fábrica do Som" e "Som Pop", exibidos pela TV Cultura, e mesmo a revista BIZZ, dentre outras iniciativas (a rádio Fluminense FM, do Rio de Janeiro, a Brasil 2000 FM, Rádio Cidade 97FM e 89 FM, de São Paulo). Mas sempre foi algo isolado, desde os anos 70 (como reclamava Rogério Duprat, numa entrevista para José Marcio Penido, para a revista História e Glória do Rock, de out.1975 : "veja você, o rock não pode contar com a televisão. Rock na TV é um caso de inadequação de veículo. É frio. O som é uma droga. Rock na televisão é uma piada" – p.7).

Com o estouro do BRock, percebeu-se que o jovem também consome e forma opinião, graças muitas vezes a essa mídia alternativa (que incluía a promoção de shows em circuito de bares e no Circo Voador – Dapieve 1996 : 23-34). O espaço em que o BRock estourou incluía também aparições em programas populares como o Cassino do Chacrinha e o Clube do Bolinha, além de videoclips exibidos em horário nobre (muitos produzidos pelo próprio Boni), no Fantástico da Globo. Não havia um espaço próprio para o rock; enquanto ele abria novas possibilidades de inserção, aproveitava-se da inexperiência da grande mídia para fazer suas experimentações. O negócio ficou institucionalizado na década seguinte com dois eventos : a implantação da MTV brasileira e o programa "Matéria-prima", produzido e exibido na TV Cultura por Sergio Groismann, logo em 1990. A própria BIZZ escrevia para leitores que a conheceram a partir de 1990.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Isso tudo levantou a questão : a mídia jovem "emburrece"? Ou o público só recebe aquilo que merece e demanda? É o velho dilema de Tostines : a mídia jovem é em geral ruim porque seu público é alienado, ou vice-versa? Não cabe aqui discutir isso, mas seria interessante que a academia abrisse a esse tema, que tanto despreza também talvez por crer um caso perdido.
O surgimento da MTV foi importante para a reconfiguração da divulgação da cultura pop. Muito foi criticada por privilegiar um formato experimental em detrimento do conteúdo e, mesmo por não possuir recursos financeiros suficientes para fazer mais matérias externas, entrando em contato maior com seu público. Inicialmente a MTV, a despeito das limitações financeiras teve uma proposta alternativa de constituir um entretenimento jovem em conexão direta com os lançamentos e as modas internacionais. Tinha pouco publicidade e muitas reprises, além de ser transmitida apenas em UFH para São Paulo e Rio de Janeiro.

Mas mesmo essa presença de início insipiente chamou a atenção, pois a sua linguagem de edições rápidas e programação basicamente centrada em diversos estilos de música (que com o tempo de ser diversificaram mais) atualizou a tratamento que a TV aberta dava ao jovem (independente de isso ser bom ou ruim). E, principalmente, forçou um concorrência com as rádios em torno dos lançamentos, isto é, cada vez menos o jovem se sentia "atrasado" em relação ao relógio do mundo.
Obviamente que o Plano Real, em 1994, coroou esta atualização, beneficiando as importações. É claro que os jovens que não se contentavam em aceitar o que lhes era oferecido no mercado musical sempre deram um jeito de se atualizarem por conta própria (como mostra Alves de Souza nos exemplos do punk paulistano no começo dos anos 80, e do funk carioca durante os anos 80 e início dos 90; e eu cito o exemplo dos "cybermanos" –fãs de techno - na segunda metade dos 90). O Plano Real , a MTV e a Internet ajudaram a trazer um pouco do universo pop quase em tempo real.

Dadas as condições de consumo o rock não ressurgiu? Por que, desde os tempos de Fernando Collor, os fãs de rock vêem-se cada vez mais isolados, encurralados em seu próprio gosto, perdendo o contato com a produção nacional roqueira? Por que produtos que em nada lembram o rock dos anos 80 – que aliás, teve muitas faces -, mesmo as bandas que não entregaram os pontos até hoje, como Titãs, Paralamas e Barão Vermelho?
A estabilidade econômica ainda é um sonho a ser realizado, como pudemos comprovar no início desse ano, com a alta do dólar e a conseqüente alta dos juros. Consumir importados continua a ser tarefa para poucos afortunados, o que não impede o fã de rock de se alimentar a sua paixão em outros veículos (e o velho e bom rádio sempre ajuda nessas horas).

Não podemos atribuir ao Plano Cruzado (1986) o sucesso do BRock, devemos isso aos músicos e principalmente ao público, que convenceu a mídia de que valia a pena investir no rock nacional (o Rock in Rio de 1985 foi a grande – mas não única – prova disso). Portanto, não podemos atribuir ao Plano Collor e ao Plano Real a ascensão dos sertanejos e dos baianos da axé ou mesmo os pagodeiros. O público que consome é de jovens na sua maioria, mas são uma geração diferente e o rock parece ter parado de dizer algo de interessante a eles. Os artistas do BRock estavam chegando à maturidade e a próxima geração de roqueiros estava aportando em desvantagem com relação às novas estrelas.

A questão do público é importante porque desafia um argumento corrente de que a escuta é uma coisa pertencente ao indivíduo. Então porque tantas pessoas ouvem um só artista ou um só tipo de música. Ainda que cada pessoa tenha um seleção própria, ela tem algo em comum com as outras, que também possuem suas seleções particulares, por isso compram o mesmo álbum e cantam as mesmas músicas, no chuveiro ou num estádio. Isso não se aplica apenas aos fenômenos de massa, mas também ao "gueto", que sempre reúne mais gente do que se imagina.
Não me aprofundarei nessa questão. Vale ressaltar, porém, que enxergar esses fenômenos de massa como tais ajudaria a desvendar os muitos meandros pelos quais o público e a indústria cultural agem. Talvez esse fosse o caminho para se pensar a questão da qualidade da mídia no Brasil, num esforço de propor alternativas efetivas para melhorar o que está sendo veiculado no momento (e, não, ficar criando conselhos de inspeção, ou códigos de éticas feitos para serem quebrados).
É notório que se subestima demais a inteligência do telespectador, e o decréscimo da audiência de programas populares em horários nobres é sintomático. As emissoras, por sua vez, não se arriscam a novos formatos, e o que é novo e popular rapidamente é copotado, pois é produzido em geral numa emissora menor. As gravadoras no Brasil agem da mesma forma, e talvez o público tenha uma parcela de culpa nisso.
É difícil precisar onde começa e onde termina o processo de produção, divulgação e assimilação. Atribuir à indústria cultural o papel de vilã da mesmice no mercado fonográfico, que empurraria goela abaixo o que bem entendesse é ignorar a força do publico consumidor, o que não exime o papel potencializador da publicidade no direcionamento das escolhas. Mas por vezes nos questionamos do real peso que o público tem nesse direcionamento quando sabemos que os meios de comunicação mais centralizadores estão nas mãos de poucos grupos.
Em meio à homogeneização das escolhas populares, existem os que resolveram divertir-se com um som próprio, juntando a outros inconformados com as opções de organização que a indústria cultural detinha (e detém até hoje). São os chamados alternativos, ‘tribo" de músicos, produtores e fãs que levam a sério a opção de viver à margem do "sistema", constituindo o seu próprio sistema. Uma tarefa ingrata, se pensarmos que esses independentes empreendem sozinhos um negócio inconstante e de pouca rentabilidade.
Alternative Tentacles
Em meio à homogeneização das escolhas populares existem os que resolveram divertir-se com um som próprio, juntando a outros inconformados com as opções de organização que a indústria cultural detinha (e detém até hoje). São os chamados alternativos, ‘tribo" de músicos, produtores e fãs que levam a sério a opção de viver à margem do "sistema", constituindo o seu próprio sistema. Uma tarefa ingrata se pensarmos que esses independentes empreendem sozinhos um negócio inconstante e de pouca rentabilidade.
Além de esse tema ser reportagem de capa do suplemento Folhateen, do jornal Folha de São Paulo de 05.07.1999, Alves de Souza citou o exemplo das Mercenárias, banda paulistana dos anos 80, que acabou em 1988, e que havia optado pelo esquema de produção independente mas declinou por falta de estrutura. Antigamente o preço para se gravar e lançar um álbum independente era muito caro, pois a tecnologia era custosa e de difícil acesso. "Não há como sobreviver num esquema alternativo no Brasil, se você não tem recursos para bancar-se o tempo todo" (1995 : 155), disse Rosália Munhoz, letrista da banda, em entrevista a Bia Abramo. Assim, o grupo optou por assinar com uma grande gravadora para conquistar a sua independência. As razões para sua dissolução, logo após o lançamento do álbum Trashland, em 1988, não estavam relacionados com o novo contrato.
Os problemas não cessaram para quem persistiu na trilha independente. As tecnologias foram barateadas, e gravar um CD por conta própria não sai tão caro assim. O problema é que a procura continua baixa para esses artistas, já que os espaços disponíveis para divulgação são quase inexistentes. A procura é baixa porque não se divulga ou a divulgação é mínima porque a demanda é baixa? O músico Zé Antônio Algodoal, 35 anos, guitarrista da banda paulistana Pin Ups, na ativa desde 1989, sempre cantando em inglês, concedeu gentilmente um depoimento via e-mail, no dia 17.06.1999, discorrendo sobre como ele se enxerga dentro do rock no Brasil, o que é ser alternativo e o que mudou dos anos 80 para cá. Muito realista quanto às limitações que sua opção lhe reserva, não desiste fácil de sua grande paixão, que é a música, e aposta no reconhecimento das dificuldades para continuar agindo de forma positiva.
"O Pin Ups existe desde 1989, mas é meio difícil dizer como me enxergo dentro do rock brasileiro. Talvez com alguém insistente. É meio difícil ter uma banda pequena como o Pin Ups. São poucos os lugares pra tocar, quase nenhuma rádio toca nossas músicas (não temos o apoio de nenhuma gravadora), a distribuição dos CDs é meio difícil, e eu e a Alê [baixista da banda] ainda temos de marcar os shows e cuidar de todos os problemas. Ás vezes reclamo por não ter um final de semana livre [ele também trabalha na MTV dirigindo o programa Lado B, de música alternativa, além de dar conta de outros programas da casa], sempre viajar de ônibus e ás vezes tocar em lugares horríveis, mas a verdade é que tenho um grande amor por tudo isso. Música é a minha grande paixão (sei que parece piegas, mas é verdade) e poder tocar e ver as pessoas se divertindo e se emocionando com algo que você criou.
Quanto a ser alternativo, isso é uma coisa um tanto complexa. De uma maneira geral, acho que significa acreditar em seu trabalho e fazê-lo de uma forma honesta sem necessariamente seguir qualquer regra de mercado, ou das gravadoras. Mas isso implica, como eu já disse antes, em limitar os lugares para shows, distribuição de seus discos, ter que administrar tudo de maneira independente e estar pronto para um montão de problemas como equipamento ruim, falta de pagamento, etc. Enfim, acho que ser alternativo é antes de tudo tocar o que você quer e estar pronto para as conseqüências."
Apresenta um certo desânimo ao discutir os rumos atuais que o mercado fonográfico apresenta, e credita ao público uma parcela dessa culpa, por se mostrar muito apático mesmo com um acesso maior à informação. "Raramente se perde tempo com a promoção de uma banda nova (...) nos anos oitenta, pelo menos algumas grandes gravadoras (EMI, Warner) tentaram contratar bandas como Inocentes, Ira! e De Falla. Hoje em dia isso não está acontecendo. A esperança é que pessoas como o Kid Vinil, ou o Clemente – vocalista e líder dos Inocentes – (que também trabalha numa major) possam mostrar que a música alternativa é viável, como acontece lá fora com gravadoras médias como a Matador, Sub Pop (...) O acesso a informações hoje é muito mais fácil, mas infelizmente isso tem tornado as pessoas mais preguiçosas. Vejo aqui pelas pesquisas da MTV que a grande maioria não tem curiosidade em descobrir bandas novas e acham melhor simplesmente ouvir o que estiver tocando".
O rock nacional, cantado em português ou não, ajudou não somente a armar uma infra-estrutura de gravadoras e promoção de shows, mas também a implantar um espírito de independência entre muitos músicos. A maioria, como mostra Dapieve, começou como independente, aliás.
Uma coisa não comentada foi o fato de o Pin Ups, tal como outras bandas alternativas, como Beach Lizards, Second Come, Garage Fuzz, Mickey Junkies, cantarem em inglês, inspirados em bandas inglesas e norte-americanas. Cópia ou reverência? Alves de Souza mostra que "quando uma música rock é produzida aqui, inicia-se um processo que já a transforma em outra coisa" (1995 : 58), isto é, pode haver cópia sim, mas na maior parte dos casos, é um processo de re-interpretação dos elementos que por ventura estejam na música estrangeira.
Cantar em inglês é algo comum a músicos brasileiros desde que o rock veio para cá. Os Mutantes, antes de se chamarem como tal, faziam covers de seus ídolos ingleses e americanos, junto com outros grupos em São Paulo, no circuito de bailes promovidos por escolas de elite da capital – berço esplêndido, aliás, comum à esmagadora maioria que tocou rock no Brasil até hoje. O fato de se cantar em inglês composições próprias, porém, é algo mais decorrente dos anos 80 para cá, muito antes de Seattle, portanto. O sucesso do Sepultura no exterior é apontado como fator propulsor desse fenômeno (Dapieve 1996 : 203), e o principal sintoma de um retrocesso que o rock nacional experimentaria nos anos 90: "a maioria das novas bandas retrocedeu, em todos os sentidos. O principal passo atrás foi reempossar o inglês como língua oficial do rock", renunciando "a liberdade conquistada por Cazuza, Renato Russo, Arnaldo Antunes e cia., conformando-se com o culto no gueto" (idem).
Para Dapieve, rock nacional tem um pé na pátria amada e outro no Pai de Todos. É a naturalização do "mulato americano" (1996 : 11), o que significa vesti-lo de roupas regionais e ensiná-lo a falar a língua de Camões com uma guitarra na mão. A questão do ser brasileiro apareceu na crítica musical quando muitas bandas nacionais aparentemente viraram as costas para o poeta que está morto para engrossar o caldo underground. Não eram somente conjuntos de heavy metal – esse nunca precisaram da reverência da crítica nacional, pois constituíram seu próprio espaço em conexão com o mercado internacional – mas conjuntos de diversos estilos.
Para a crítica, o sucesso limitado dessas bandas deve-se ao fato de estarem tocando algo "fora do lugar", imitando ícones independentes do exterior. É o que afirma José Emílio Rondeau, na crítica aos discos do Killing Chainsaw (de Piracicaba) e do Pin Ups, numa dura crítica. Mas Thales de Menezes, aponta para o mesmo problema que Zé Antônio observou acima: a falta de espaço alternativo constituído e falta de interesse do público em buscar informações novas. "No Brasil, a Internet e a TV por assinatura aproximam a moçada roqueira de todos os lançamentos do planeta, independentes ou não. As opções de shows não aumentaram muito, mas as gravações pululam. Tudo mudou? E para melhor? Perdão, mas a coisa continua feia para quem pretende fazer rock no Brasil. O pessoal costuma confundir gravação independente com mercado independente. Mas o mercado ainda não existe. (...) há veteranos de estrada, como o Pin Ups (...) os caras têm uma carreira de verdade, um trabalho consistente. Mas passa longe do grande público. Se estivessem nos EUA, Zé, Alê e seus amigos seriam maiores que o Fugazi" (Folhateen, p.4). A falta de infra-estrutura e de apoio mútuo das bandas também foi uma reclamação de Zé Antônio ("lá fora as condições são outras e as bandas tentam se ajudar, o que aqui infelizmente nem sempre acontece; existem rádios e revistas especializadas e gravadoras pequenas que conseguem realizar bons trabalhos"). Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o do-it-yourself dos punks fomentou a construção de uma verdadeira estrutura independente que se mantém até hoje.
Quanto a cantar em inglês, a renitência em defender o português como língua legítima do rock nacional é refutada em carta de leitor da mesma edição do Folhateen. Reclamando sobre as exigências de festivais nacionais de novos talentos (o Skol Rock em especial) em aceitar somente bandas que cantem em português, o leitor Fabrício Nobre, de Goiânia, avisa: "aos organizadores desses festivais de rock (o mais abrangente, contestador e inovador entre os estilos musicais) em português: vocês já pensaram que podem estar perdendo a chance de receber numa fitinha Basf 46 sem capa um novo Mutantes, um Sepultura? Meus amigos: Pixies é uma banda americana, mas têm canções em espanhol; os Cardigans são suecos e cantam em inglês; Cornelius é japonês e, em seu Cd, há músicas em inglês, japonês, e no encarte há todas as letras traduzidas para o português; Mar or Astroman? (americanos) e Mogwai (escoceses) nem cantam e fazem rock" (Folhateen, seção Cartas, p.2).
Nessa fala encontramos uma preferência pelo som, e não pelas letras, o que não deixa de ser legítimo, pois nem só de boas letras temos grandes canções e, principalmente, "a música popular pode ser considerada um "rede de recados", o que relativiza o seu uso estético contemplativo" (Souza 1995 : 154). A música comercial, mesmo com uma multiplicidade de usos, não pode ser considerada como um agente cultural transformador, seja pelas letras ou pelo som. Há os que surpreendem o gosto médio com bastante sofisticação ou inovação, e isso pode mudar diversos padrões da produção e assimilação musical, mas estender isso para toda a sociedade é um exagero.
Sentimento de colonização ou reconhecimento de uma transnacionalidade irreversível (ainda que não endêmica)? Ouça as bandas e tire suas próprias conclusões.
Enquanto uns ficam injustamente escondidos, outros emergem do passado, como uma onda no mar da História recente do pop. Jogada de marketing ou ressaca de criatividade? O fato é que muitas bandas do rock nacional dos anos 80 reaparecem na memória de seus antigos fãs e conquistam a nova geração que começa a ouvir rock nesse momento. Não é, porém, o resgate e bandas mais agressivas e, sim, da face pop do BRock.
Geração Coca-Cola II – A Revanche?
Ao assistir ao Bem Brasil, da TV Cultura, exibido em 04.07.199., com apresentação ao vivo do Ultraje a Rigor, o câmera, em determinado momento do show focalizou um garoto vestindo camiseta preta com estampa de rock, que segurava um cartaz escrito à mão : VIVA O ROCK NACIONAL. Entendi o que estava embaixo do meu nariz. Este revival é uma tentativa de reabilitar o rock nacional, cuja raíz é vista nos anos 80; a raiz popular que fez todo mundo saltar e cantar junto. Algo que teria se perdido quase por completo, se não fosse a memória dos trintões e vontade dos garotos que, mirando o passado, poderiam encontrar um futuro.
É muito interessante a caracterização do publico médio que se identificou com as bandas do BRock feita por Alves de Souza ("público tedioso e carente de experiências históricas ; trata-se daquele jovem que cresceu durante o regime militar e que, no contexto de ascensão democrática, começou a identificar no rock dessas bandas uma resposta para sua assombrações do dia-a-dia" – 1995 : 99), pois ela é totalmente diferente do perfil do jovem que ouviu rock nos anos 90. Mesmo a leitura dos anos 80 no fim dos anos 90 é sintomática do que o próprio público espera do rock atual. Ao recuperar uma parte de nossa memória, não deixamos de estar conectados ao presente. A crítica não mudou muito, mas a BIZZ com certeza reorientou seus parâmetros e conta hoje com uma equipe de nomes novos, mais abertos ao passado e ao presente.
A reportagem especial de edição no.160, de dezembro de 1998, contendo vinte (!) páginas, pode ser lida como um mea culpa do periódico, que tanto alfinetou boa parte dessas bandas. Alves de Souza até defende a posição editorial da revista e dos jornalistas como um todo, afirmando que "a sua crítica só raras vezes chega a "massacrar" uma banda e, quando o faz, procura fraquezas musicais ou da estética do rock" (1995 : 80-81). Mas o texto da edição comemorativa destaca : "a maioria das bandas brasileiras que a imprensa ( e particularmente a revista BIZZ) incensava na década passada não conseguiu chegar aos ouvidos do grande público e sumiu sem deixar saudades" (p.35) ou ainda no editorial, escrito por Pedro Só : "aproveitamos para fazer uma revisão histórica, recuperando, com a inestimável assessoria do tempo que passou, reputações injustamente manchadas por palavras como "descartável" ou "engraçadinho"" (p.3).
Talentos mal-reconhecidos ou saudades de um passado, em meio à uma suposta ausência de inventividade (ou excesso de mesmice)? Como o músico dos Pin Ups indicou acima, há um acesso maior às informações, ao menos para os jovens de classe média (ou o que resta dela), mas não há procura pelo novo e os incentivos nessa direção acabam surdos. A culpa é da produção cultural estagnada?
Penso não somente na enxurrada de conjuntos de pagode e axé e de duplas sertanejas que invadiram a praia dos roqueiros, mas também na ausência de espaços alternativos e a falta de interesse de incentivos culturais por parte dos governos estaduais e municipais (desde a redemocratização). Penso na situação da mídia em geral, em que a TV por assinatura ainda é restrita e cheia de reprises, e em que a TV aberta debate-se contra fórmulas desgastadas, sem encontrar uma forma criativa de contornar a situação. Mesmo a TV Cultura, que tanto contribuiu para a renovação da TV brasileira, está com sérios problemas financeiros ao completar 30 anos de existência em junho de 1999. No setor de publicações, então, a situação não é tão animadora também.
O revival dos anos 80, a década perdida, confere a sensação de que os anos 90 foram um período de afrouxamento para o rock e de que os anos 80 detiveram o rock nacional como deveria ser. É o objetivo implícito de Dapieve ao fazer um levantamento da história das principais bandas do período, mostrando-se menos severo que seus companheiros jornalistas ao não criticar tão duramente trabalhos mal-fadados que sucederam o sucesso estrondoso (como o caso do Ultraje a Rigor, Ritchie, Lobão). O que os críticos enxergavam como ressaca agonizante pós-primeiro hit, Dapieve contemplou como bons trabalhos mal-recebidos, seja pelo público, seja pela mídia. O que se seguiu depois, com a retirada de cena da maior parte dessas bandas (ou o enfraquecimento da presença das que continuaram, como Titãs, Paralamas e Barão vermelho – a exceção é o Legião Urbana), para Dapieve, foi o retrocesso.
Só que o rock não existe como uma forma "pura", esteja ela localizada nos anos 50, 60, 70 ou 80 (Souza 1995 : 64-67). Não se pode querer que ele continue "na crista da onda" por todo o tempo, mas não significa que ele morreu. Parece mais que ele está à espreita, esperando o momento certo para acabar com a tranqüilidade do mundo. Pode ser que ele não venha da forma que nós, fãs da guitarra distorcida e da cara de mau, esperamos. O tecno, o rap, o hip-hop parecem abandonar o gueto para conquistar cada vez mais jovens, longe dos olhos da grande mídia. Estilos e modas que ganham simpatia pelas texturas diferentes que apresentam; mas a proposta de fruição e crítica, proximidade e tactabilidade (Souza 1995 : 32) está lá. Não terá sido mera coincidência que o primeiro rap, do Africa Bambataa tenha se chamado, "Planet Rock"...
Fazer um ensaio sobre rock nacional ( e reconheço que acabei transformando-o em ensaio sobre o rock no Brasil) obrigou-me a sair de uma posição comodista, de mera fã do universo pop, para me portar mais criticamente em relação a minha própria trajetória (e a de meus amigos roqueiros) sem achá-la óbvia demais, mas também sem sentir culpa por buscar diversão em uma arte que ainda torna nossa vida mais plena de sentido.
BIBLIOGRAFIA
Benjamim, W. Magia e técnica, arte e política : ensaios sobre literatura e história da cultura, Brasiliense, São Paulo, 1985.
Bivar, A. O que é punk?, Brasiliense, São Paulo, 1984, 3ªed.
Calado, C. A Divina Comédia dos Mutantes, Rio de Janeiro, Editora 34, 1996, 2ª ed.
Dapieve, A. BRock : o rock brasileiro dos anos 80, Rio de Janeiro, Ed. 34, 1995.
Revista Bizz, Editora Azul, ano 8-9, ed. 84-89-90-94-95, 1992-3.
Revista Showbizz, Editora Abril, ano 14, ed.160-161, 1998.
Souza, A.M. Alves de. Cultura rock e arte de massa, Rio de Janeiro, Diadorim, 1995.
Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 As melhores bandas que Lars Ulrich, do Metallica, assistiu ao vivo
As melhores bandas que Lars Ulrich, do Metallica, assistiu ao vivo Lenda do thrash metal alemão será o novo guitarrista do The Troops of Doom
Lenda do thrash metal alemão será o novo guitarrista do The Troops of Doom O disco ao vivo que define o heavy metal, segundo Max Cavalera
O disco ao vivo que define o heavy metal, segundo Max Cavalera Dee Snider revela quem além de Sebastian Bach poderia tê-lo substituído no Twisted Sister
Dee Snider revela quem além de Sebastian Bach poderia tê-lo substituído no Twisted Sister Mamonas Assassinas: a história das fotos dos músicos mortos, feitas para tabloide
Mamonas Assassinas: a história das fotos dos músicos mortos, feitas para tabloide Fã de Rita Lee no BBB pede show da cantora, e se espanta ao saber que ela faleceu
Fã de Rita Lee no BBB pede show da cantora, e se espanta ao saber que ela faleceu A internet já começou a tretar pelo Twisted Sister sem Dee Snider e com Sebastian Bach
A internet já começou a tretar pelo Twisted Sister sem Dee Snider e com Sebastian Bach Rafael Bittencourt elogia Alírio Netto, novo vocalista do Angra; "Ele é perfeito"
Rafael Bittencourt elogia Alírio Netto, novo vocalista do Angra; "Ele é perfeito" Venom anuncia novo álbum de estúdio, "Into Oblivion"
Venom anuncia novo álbum de estúdio, "Into Oblivion" Por que Roger Waters saiu do Pink Floyd; "força criativa esgotada"
Por que Roger Waters saiu do Pink Floyd; "força criativa esgotada" As músicas que o Iron Maiden tocou em mais de mil shows
As músicas que o Iron Maiden tocou em mais de mil shows Ouça Sebastian Bach cantando "You Can't Stop Rock 'N' Roll" com o Twisted Sister
Ouça Sebastian Bach cantando "You Can't Stop Rock 'N' Roll" com o Twisted Sister Joe Satriani conta como indicou Bumblefoot ao Guns N' Roses
Joe Satriani conta como indicou Bumblefoot ao Guns N' Roses O hit do rock nacional que boa parte do Brasil não sabe o que significa a gíria do título
O hit do rock nacional que boa parte do Brasil não sabe o que significa a gíria do título O álbum clássico de heavy metal que Max Cavalera gostaria de ter feito
O álbum clássico de heavy metal que Max Cavalera gostaria de ter feito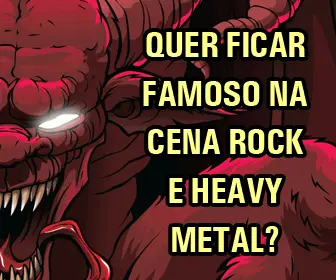
 O dia que Cazuza pagou justo esporro para Sandra de Sá ao ver atitude da cantora em festa
O dia que Cazuza pagou justo esporro para Sandra de Sá ao ver atitude da cantora em festa Como e por que Linkin Park contratou Emily Armstrong como cantora, segundo Shinoda
Como e por que Linkin Park contratou Emily Armstrong como cantora, segundo Shinoda Porque Gene Simmons tem o dobro da fortuna de Paul Stanley, com quem co-fundou o Kiss
Porque Gene Simmons tem o dobro da fortuna de Paul Stanley, com quem co-fundou o Kiss



 Você está realmente emitindo sua opinião ou apenas repetindo discursos prontos?
Você está realmente emitindo sua opinião ou apenas repetindo discursos prontos? Arch Enemy, o mistério em torno da nova vocalista e os "detetivões" do metal
Arch Enemy, o mistério em torno da nova vocalista e os "detetivões" do metal Três "verdades absolutas" do heavy metal que não fazem muito sentido
Três "verdades absolutas" do heavy metal que não fazem muito sentido Está na hora dos haters do Dream Theater virarem o disco
Está na hora dos haters do Dream Theater virarem o disco Será que todo fã é um idiota? Quando a crítica ignora quem sustenta a música
Será que todo fã é um idiota? Quando a crítica ignora quem sustenta a música 5 músicas para entender um headbanger
5 músicas para entender um headbanger Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha
Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha
