Case Study: Por que o Rock e o Blues nacionais não colaram em mim, afinal?
![]() Por Rodrigo Contrera
Por Rodrigo Contrera
Postado em 26 de julho de 2016
Tenho muitas dúvidas sobre a música estrangeira em geral. Por que ela de alguma forma bate mais fundo em mim do que a local? Por que ela parece me tocar mais, mesmo quando não a entendo? Por que acho os instrumentistas de fora em geral melhores do que os daqui, mesmo quando isso não acontece? Por que os gêneros de fora parecem mais autênticos do que os daqui, mesmo quando os daqui SÃO realmente mais autênticos?
Por que somente os gêneros que crescem e se desenvolvem aqui batem mais fundo (mesmo quando parecem de mau gosto, como a música sertaneja brega)? Por que os músicos daqui, quando realmente caem na estrada, parecem me convencer mais do que os grandes músicos de estúdio, independente do gênero? Por que com o tempo as músicas de fora me convencem mais, mesmo quando as daqui parecem até ser melhores? Por quê? No fundo, eu sei que jamais saberei, parafraseando Sócrates. Mas essas dúvidas permanecem. Este texto é só uma pequena reflexão a respeito de algumas delas. Sobre rock e blues.
Rock
Eu não bebi do rock quando ele surgiu (alguns dizem que foi antes de Elvis ou Eddie Cochran). Elvis não me convencia quando aparecia na tv dos meus pais. Ele me parecia um cara bonito com um montão de garotas ao redor, apenas isso. Ele me aparecia naqueles filmes velhos, dando uma de esperto, sempre lutando contra uma sociedade que não me aparecia ameaçadora (ainda). Ele não me dizia muita coisa. Nunca me disse muita coisa (até recentemente). Mas o rock realmente surgiu dele ou de Bob Dylan? Não sei. Isso, no fundo, eu acho que é coisa de especialista. Ou de gente que não tem muito o que fazer. Ou de gente de outra geração, quem sabe.
Caetano, bem no começo do seu livro "Verdade Tropical", fala de Elvis e Marilyn. E não fala, digamos, muito bem deles. Diz que ele via os amigos fãs de Elvis em sua pequena Santo Amaro (da Purificação) (BA) como canastrões. Porque ele não via Elvis e seu jeito de viver e de cantar como ameaças à pequena vida naquela pequena cidade. Ele não os via como revolucionários ou como algo que pudesse realmente causar algo de novo ao seu estilozinho de vida. Isso comenta Caetano bem no começo do seu livro, que me ajuda a me reencontrar.
Realmente, eu não via Elvis como alguém ou algo maior. Como alguém que me dissesse algo especial. Como um fenômeno que pudesse me dizer algo à minha pequena vida de pequeno imigrante (tinha uns 15 anos quando fui pela primeira vez apresentado ao rock, mas claro, sob outras roupagens), que vivia em bairro de classe média ou média baixa, que ouvia rádio de vez em quando e que não tinha ou não pretendia ter uma vida diferente da da maioria dos meus colegas de escola, ou dos meus amigos de bairro, ou namorar alguém com uma ideia de vida diferente da minha, ou muito diferente dela.
Eu nunca quis ser diferente. Não me imaginava chamando a atenção das garotas em geral, ou de alguma diferente. Eu queria namorar a garota mais bonita da sala, é certo, mas eu queria provar meu valor sendo um cara bom, com ética, trabalhador e sem muito a fornecer à sociedade a não ser um bom trabalho, um bom exemplo, uma boa imagem de um cara correto. E para isso eu usava de minha inteligência, meu bom senso (possível), meu caráter e o pouco dinheiro que eu poderia eventualmente conseguir. Eu queria me dar bem, também, mas não achava que isso poderia ser conseguido de forma diferenciada, de uma tacada só.
Anos 70 e 80
No final dos anos 70 e começo dos 80, o rock estava, pelo que eu entendo, em sua terceira geração. Porque teve Elvis, Os Beatles e toda aquela turma; teve o rock dos 70 e toda a contracultura; teve então todo o movimento que veio deles e do conhecimento que outros adquiriu do blues, que se tornava mais premente na vida, assim como o jazz, e era este terceiro grupo que eu aprendia o que era rock, e era um grupo mais diversificado, não necessariamente afeito aos valores da contracultura, mas bebendo deles, e relativamente afastado da primeira geração, que ainda conseguia, sim, inculcar alguns valores e influência, mas não tanta. Porque rock é uma coisa de gerações.
Ou seja, ouvindo o rock do final dos 70 e começo dos 80, eu não ouvia necessariamente Led Zeppelin ou Deep Purple, dois dos grandes dessa época, mas ouvia AC/DC, Iron Maiden, Scorpions e outras bandas dessa linhagem, e sendo assim, eu não ficava sujeito aos valores da geração Woodstock (necessariamente, que incluía The Yardbirds, Janis, Dylan), embora estivesse, mas a valores de roqueiros mais conservadores, menos experimentais, menos paz e amor, mas mais sujeitos a outras influências, como da tv, do rádio, do cinema, de outros filmes e outros livros, e mais, de outras classes sociais.
Porque os irmãos Young do AC/DC não eram muito intelectualizados, nem os caras do Iron, muito menos os sujeitos do Scorpions; eles eram de classe média baixa, como eu, não haviam frequentado universidade ou viajado o mundo, e não viam o mundo de forma tão complexa como os da geração anterior. Nem haviam sido influenciados ou haviam influenciado (ou queriam influenciar) o mundo como os Beatles, por exemplo. Eram, nesse sentido, menores, em todos os sentidos. Como era menor minha expectativa com relação a eles e ao mundo.
Universidade
Ocorre que logo então eu iria virar universitário, iria ficar sujeito a todo esse aprendizado sobre indústria cultural, iria aprender o que é a tv e o rádio, assim como a começar a escrever em pequenos jornais, e iria ser influenciado por livros que advinham da geração de Woodstock, e até anteriores, de gente que ensinou aquela gente (Marcuse, Adorno, etc.), tentando auferir lucro de tudo isso. Mas meus valores, ao menos musicais, não estavam com essa geração que me ensinava; e eu sempre fui ultraconservador quanto àquilo em que acreditava em em que queria acreditar. Nesse sentido, toda aquela geração (a segunda) do rock mal me atingiu, ao menos em meus valores. Eu os via na tv, claro; eu havia ouvido Motown (sem saber), claro; eu vivia meus dias com gente que advinha de outras classes, também; mas meus valores musicais, ao menos em termos de rock, eram esses mesmo: anos 70 (final) e 80.
Ocorre que o rock há havia entrado no país por outros caminhos. Roberto Carlos, o rock nacional dos 80, Cazuza, Barão, e toda aquela trupe se aproveitava do clima de final de ditadura militar para instaurar uma nova onda no rock aqui entre nós. Eu não os ouvia em demasiado, talvez porque não quisesse ou não tivesse maturidade para entendê-lo, ou quem sabe porque eles me parecessem pop demais para serem chamados de rock - e eu acho que era isso mesmo. Acontecia que eu ouvia Lulu Santos e gostava, mas não era rock para mim - e quem sabe não fosse; ouvia músicas de Beto Guedes e outros no rádio mas elas me pareciam música brasileira - nem MPB, que não havia sido apresentado a ele; ouvia músicas nacionais no rádio e nada me parecia algo do jeito que ouvia lá fora e que batia fundo em mim. Claro que eu não ficava só sujeito a essas influências. Mas em suma: aquilo não era rock. Rock nacional não era rock para mim, e mais, era algo simples que não me atacava os brios, não me fazia pensar, não me fazia procurar sobre história - que era algo que o Iron, por exemplo, me fazia procurar. Não me atiçava.

Metaleiros
Hoje sabemos como a indústria cultural faz uso de pesquisas para atingir o seu público, e como elas podem ser fundamentais para se manter a imagem de artistas de destaque. Mas o Iron, por exemplo, não fazia uso disso (ou pelo menos maciçamente disso) quando me atingia, e cumpria seu papel de ser a banda de rock preferida minha (hoje o público que eu represento parece minoritário no leque de gente que gosta deles). O Iron surgiu das classes trabalhadoras do Reino Unido, tocando em pequenos pubs e começando a deslanchar apenas no terceiro LP, quando me conquistaram. Eles fizeram uso principalmente de seu feeling para isso, muito claro fica para mim. Eles mesmo nem faziam uso de ilustradores profissionais para suas capas (o Derek Riggs deixava a dever, tanto que o substituíram quando viraram a potência que são hoje). Eles sempre pareceram uma banda meia boca para muitos, e ainda parecem isso para os roqueiros que se dizem originais ou que pretendem dizer que a verdade está com eles.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Ou seja, o rock nacional não falava para mim. Não me dizia grandes mensagens, nem grande coisa, ou talvez não tivesse competência para isso. Sabíamos que Made in Brazil era realidade naquela época, com um rock duro do qual hoje fazem parte amigos meus; mas ele não parecia conversar comigo; não parecia apostar nos naipes que eu conseguia de fora, e que me faziam consumir discos (LPs), que não eram só de heavy metal, mas também de blues, por exemplo. O rock nacional podia estar atrasado, nos meus quesitos; poderia não falar para um garoto com mentalidade inadequada para eles; ou poderíamos não ter mão de obra potente suficiente para alguém conversar comigo. Acontece que já deslanchavam no mercado nacional guitarristas que pudessem competir com aqueles; eles já davam aula e lançavam discos-solo; eles cumpriam uma já respeitável estrada; mas por algum motivo eles não falavam comigo, não falavam com meu coração. E portanto não me convenciam enquanto rock.

Blues
Não se diga que eu não estava aberto a influências nacionais naquela época, que curtia o final do auge das músicas experimentais do Premê e do Arrigo, que eu ouvia toda santa noite do quarto de minha irmã, que fazia ECA (eu iria fazer posteriormente), ou que eu não ia a shows de blues, em Pinheiros, a duras penas, influenciado de alguma forma pela pegada da música - e o blues foi o começo do rock maneiro. Eu comecei ouvindo blues, acho, com o André Christóvam e continuei ouvindo Edvaldo Santana, com seu Lobo Solitário, de 1993, que eu comprei em LP (e que tenho até hoje). Pois bem, foi com nacionais que eu entrei nessa leva de influências.
Mas eles conseguiram me manter? Não. Não conseguiram. Deles eu migrei para o blues estrangeiro da época, e não saí mais dele. O que aconteceu? Não se diga também que eu não gostava realmente do que ouvia. Eu gostava. Ainda hoje me recordo quando fui a um show do Edvaldo no AeroAnta, e não havendo ninguém lá eu não senti que eles se dedicaram no show como deveriam - o que fez com que eu me afastasse. Ainda hoje recordo com emoção as músicas do LP, especialmente Lobo Solitário, e consigo cantá-las até o fim, e olha que fiquei mais de 20 anos sem tocar os LPs, ou sem ouvir as músicas no Youtube, que hoje posso usar. Eu me lembro claramente quando ia assistir a shows em lugares como o Sesc Pompeia, e pegava as assinaturas dos guitarristas que eu ia prestigiar, mas que de alguma forma não me davam o que eu queria. Ou seja, eu tentei, mas de alguma forma eles me perderam - como devem ter perdido muitos outros como eu.

Em parte, aconteceu então o oposto. Do blues nacional eu migrei para o blues estrangeiro. Gente de minha época ou pouco anterior, como o Stevie Ray Vaughan, ou ainda mais antiga, como o Albert Collins, e mesmo o B. B. King, passaram a me influenciar mais que os nacionais, seus jeitos passaram a dizer mais a mim do que as letras dos (bons) caras daqui, seu jeito mais tosco e menos trabalhado, e mesmo suas limitações passaram a comentar mais da vida do que as brincadeiras que os daqui cometiam, com slide guitar e tudo o mais. Pois eles pareciam mais profissionais, quem sabe, ou quem sabe seu tempo fosse mesmo aquele - e o dos atuais jamais viesse a chegar, que é o que me parece -, ou eles talvez fossem mesmo mais profissionais e mais focados na carreira, e na forma de oferecê-la. Ou quem sabe os empresários destes nacionais fossem ruins, ou não houvesse condições suficientes e necessárias para que os nacionais brilhassem. Não sei. Só sei que eu fiquei fixado nos estrangeiros, e deles não larguei, como ainda não largo - e os nacionais ainda se esforçam em me reconquistar (e olha que fiquei meio amigo deles, pessoal, com o passar do tempo, e as idas e vindas biográficas tanto deles quanto minhas). Pois é, é o jeito. Foi como aconteceu.

MPB e samba
Na época em que eu ouvia o rock (heavy metal) estrangeiro e o blues, eu também começava a ser levado a ouvir MPB, e graças a uns amigos (e amigas), a ouvir bossa-nova e sua vertente mais forte, o samba. Não o samba de boteco, ou pagode, ou nada. O samba, mesmo, os melhores do samba. E eu me lembro bem de ter comprado diversos LPs do Paulinho da Viola e de gente mais experimental e menos ouvida, como os sertanejos que não eram sertanojos, e muita gente boa, da qual eu ainda tenho os materiais. Pois bem, ouvindo bossa-nova e cantando-a, sem "entender" nada dela, eu não larguei. Eles realmente ficaram para valer e deles nunca me afastei. Mesmo que os LPs em seguida não fossem tão bons, mesmo que sua influência se estendesse pelo jazz, que passei a ouvir também a rodo, da bossa nova eu não larguei. Nem do samba, do bom samba, do samba dos livros, e dos caras de primeira linha. Até ouvi coisas mais recentes, e quando eram boas ficavam para valer. Pois bem, é deste tipo de música, bem tratada, com esmero e qualidade, é que eu realmente nunca desisti, como não desisto.

Jazz
No caso do jazz foi diferente. Eu ouvi sobre ele, e o ouvi muito, em gravações estrangeiras, já bem passadas, em CDs comprados baratinho em promoção. E a evolução, no caso deles, se deu de outra forma. Eu passei rapidamente dos mais comuns para os mais antigos - que comprei por Amazon - e depois para os instrumentais que estavam em filmes e outros, ainda mais raros, que eu comprei muito caros em lojas que tinham grandes estoques e grande variedade, por conta o risco - ou ouvindo-os lá mesmo. Eu já estava casado e meu ouvido estava suficientemente treinado para ouvir o que havia neles de melhor, e eu conseguia curtir com gente que dificilmente poderia embarcar por aqui - e eu sabia disso -, mas que quando embarcou, eu assisti, pagando a preço de ouro (e delirei). No jazz, ninguém aqui parecia se aproximar. Pelo menos no jazz que eu curtia.

Mas houve exceções, e elas foram notáveis e mais, foram exceções que se mantiveram até o fim (não sei o que aconteceu). Como o Fábio Caramuru, que fazia e ainda faz concertos meio à la free jazz, e que ficou meu amigo, e até me cedeu a exibição de uma de suas faixas em uma peça que fiz sem recursos quaisquer. Ou outros experimentais que conseguem não rivalizar com o jazz lá de fora, mas que conseguem atingir maestria técnica suficiente para me convencerem de suas obras. É curioso que nesse mercado, de gente de primeiríssimo nível, o acerto se dá, mas entre os outros, em que, ao que parece, vige o improviso (no mau sentido) ou o antiprofissionalismo, não. É realmente bem estranho. Mas é como tudo se deu, realmente.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Regra geral?
Os anos foram se passando e algumas paixões foram indo embora. Porque o Iron, por exemplo, se foi enquanto tão grande paixão. Por muitos motivos, claro, não apenas porque devem ter passado a usar pesquisas de marketing. Não, eu mudei, eles mudaram, eles avançaram, e eu também do meu jeito. Mas nos afastamos, e eles cresceram, e eu também. Mas, dentre os meus nacionais, poucos deles seguiram o mesmo caminho. A maioria parece ter ficado a ver navios, com exceções, no caso a bossa nova, o samba de primeira - que eu assisti há poucos anos em concertos, e me agradaram -, e a música instrumental assimilada a um jazz também de primeira. Tirando eles, todos ficaram a ver navios, por melhor instrumentista que cada um seja, por melhor repertório que tenha, mesmo se lançarem muitos CDs ou fizerem muitos shows. Não adianta.

Regra geral, então, há algo de podre no Reino de Dinamarca. Os artistas nacionais, por melhor que sejam, quando avançam em rumos que não conhecem realmente, ou perdem o foco (no meu caso) ou ficam sempre a ver navios, meio que à mercê das marés estrangeiras, ou da qualidade (ou falta de qualidade) dos que contratam ou dos que os contratam. Não sabendo bem o que acontece, cumpre procurar e entender melhor do assunto. No meu caso, em geral eles me perderam. O rock, o heavy, o blues, o jazz, todos ficaram no meio do caminho. Pena.

Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 O melhor guitarrista de todos os tempos, segundo o lendário Bob Dylan
O melhor guitarrista de todos os tempos, segundo o lendário Bob Dylan O melhor e o pior disco do Sepultura, de acordo com a Metal Hammer
O melhor e o pior disco do Sepultura, de acordo com a Metal Hammer A melhor banda de rock progressivo para cada letra do alfabeto, segundo a Loudwire
A melhor banda de rock progressivo para cada letra do alfabeto, segundo a Loudwire A música que Brian Johnson chamou de uma das melhores do rock: "Tão bonita e honesta"
A música que Brian Johnson chamou de uma das melhores do rock: "Tão bonita e honesta" Ex-Arch Enemy, Alissa White-Gluz anuncia sua nova banda, Blue Medusa
Ex-Arch Enemy, Alissa White-Gluz anuncia sua nova banda, Blue Medusa A cantiga infantil sombria dos anos 1990 que o Metallica tocou ao vivo uma única vez
A cantiga infantil sombria dos anos 1990 que o Metallica tocou ao vivo uma única vez Morre aos 60 anos Tommy DeCarlo, vocalista da banda Boston
Morre aos 60 anos Tommy DeCarlo, vocalista da banda Boston Tommy DeCarlo morreu exatamente 19 anos depois que Brad Delp, vocalista original do Boston
Tommy DeCarlo morreu exatamente 19 anos depois que Brad Delp, vocalista original do Boston Baterista do Matanza Ritual e Torture Squad é dopado e roubado após show do AC/DC
Baterista do Matanza Ritual e Torture Squad é dopado e roubado após show do AC/DC Terra do Black Sabbath, Birmingham quer ser reconhecida como "Cidade da Música"
Terra do Black Sabbath, Birmingham quer ser reconhecida como "Cidade da Música" Mamonas Assassinas: a história das fotos dos músicos mortos, feitas para tabloide
Mamonas Assassinas: a história das fotos dos músicos mortos, feitas para tabloide Moonspell anuncia título do próximo álbum de estúdio, que sai em julho
Moonspell anuncia título do próximo álbum de estúdio, que sai em julho O melhor guitarrista dos anos 1980, segundo Ritchie Blackmore: "Ele é absurdo"
O melhor guitarrista dos anos 1980, segundo Ritchie Blackmore: "Ele é absurdo" A piada de Phil Lynott sobre o Black Sabbath que fez Tony Iommi cair na risada
A piada de Phil Lynott sobre o Black Sabbath que fez Tony Iommi cair na risada Alice Cooper anuncia autobiografia "Devil on My Shoulder"
Alice Cooper anuncia autobiografia "Devil on My Shoulder"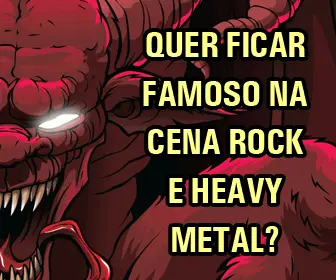
 O álbum de hard rock que Corey Taylor chamou de "um dos piores de todos os tempos"
O álbum de hard rock que Corey Taylor chamou de "um dos piores de todos os tempos" Corda arrebentada deu origem à canção da Legião Urbana que arrebentou nas paradas
Corda arrebentada deu origem à canção da Legião Urbana que arrebentou nas paradas A resposta franca de Axl Rose ao ser perguntado se o Guns era uma banda de Heavy Metal
A resposta franca de Axl Rose ao ser perguntado se o Guns era uma banda de Heavy Metal



 Você está realmente emitindo sua opinião ou apenas repetindo discursos prontos?
Você está realmente emitindo sua opinião ou apenas repetindo discursos prontos? Arch Enemy, o mistério em torno da nova vocalista e os "detetivões" do metal
Arch Enemy, o mistério em torno da nova vocalista e os "detetivões" do metal Três "verdades absolutas" do heavy metal que não fazem muito sentido
Três "verdades absolutas" do heavy metal que não fazem muito sentido Está na hora dos haters do Dream Theater virarem o disco
Está na hora dos haters do Dream Theater virarem o disco Será que todo fã é um idiota? Quando a crítica ignora quem sustenta a música
Será que todo fã é um idiota? Quando a crítica ignora quem sustenta a música 5 músicas para entender um headbanger
5 músicas para entender um headbanger Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha
Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha
