A despedida do Rush e de algumas outras
![]() Por Rodrigo Contrera
Por Rodrigo Contrera
Postado em 24 de janeiro de 2018
Vivemos um tempo de despedidas. De várias formas. Ou de ídolos que aparecem mortos. Ou de bandas que não são mais o que foram. Ou de shows que não irão mais acontecer. Há bandas que ainda dizem que aparecerão por aí (isso, lá fora). Outras que se preparam para desembarcar. Outras que anunciam solenemente que estão parando, afinal.
A mais recente delas é o Rush, cujo guitarrista saiu até no Uol, comentando a respeito de não se prepararem mais para turnês ou para gravar alguma coisa mais. Isso é o fim, como fica claro. Sem shows e sem álbuns, tudo vira memória. É como aqueles tiozinhos que se aposentam e que passam a vida vendo a vida dos outros passar.
Não irei comentar aqui o que acho do Rush, pois isso é irrelevante. Meu conhecimento da trajetória e do som da banda não me dá margem a falar nada a respeito. Mas entendo seu papel no cenário da música rock das últimas décadas. Uma espécie de joia da coroa, naquela leva de bandas tecnicamente irretocáveis, com álbuns memoráveis e hits inesquecíveis.
Lembro-me de quando o Rush aparecia no Super Pop, na década de 80, com imagens que pareciam convidar a reflexões que eu não podia ou não queria fazer naquela época. Uma banda muito afastada de minhas pretensões roqueiras, mais comedidas e mesmo mais ignorantes. Uma banda de gente grande. Como o Pink Floyd, por exemplo.
Mas noto em linhas gerais como o clima de fim de festa domina os anos, e isso cada vez mais. Os caras que curtem rock geralmente são mais velhos, nos dias de hoje. São até mais conservadores. E são poucos os que ainda continuam garimpando, como zumbis em busca de pepitas de ouro no meio da lama. Chega a ser engraçado encontrar gente como a gente em bares por aí. Todos com olheiras, pés de galinha, o peso da idade. E sem mais fôlego para gritar quando vêem algum show no palco.
A juventude que acompanha estas décadas parece-me então meio deslocada. Como se fossem garotos que sabem ter nascido tarde demais. Que ainda imploram para que o Iron chegue nestas bandas. Ou que se acostumou a ver as bandas clássicas em shows no Youtube. São como eu, que nunca viu os clássicos ao vivo, digo o Led, o The Who (meu irmão viu), ou outros de tempos ainda mais distantes.
Eu vi o Iron no Palmeiras. Vi o Metallica com o Jason, no Ginásio do Ibirapuera. Vi o Motörhead no Via Funchal, bem de longe. E vi mais. Acompanhei vídeos do Iron em pequenas casas perto da brigadeiro, na época em que o seu estilo mais punk predominava. Fui até com canivetes, que os seguranças não pegaram. Vi gente apanhando de bobeira no show do Metallica, e isso me acostumou àquilo que iria escutar os anos a seguir. Mas não fui ao primeiro RiR, não vi o Sabbath, não vi o Van Halen, e ouvi o Queen em São Paulo num radinho de um porteiro do prédio em que eu morava.
Nesse tempo todo, mudei e embora ainda consiga encarar um show daqueles, não me agrada muito passar pelo trabalho. Não me agrada ter que disputar para encontrar uma brecha para ver alguma coisa a ficar, quem sabe, na minha lembrança. Fiquei mais velho, mais acomodado, e também um pouco menos metaleiro do que de costume. De certa forma, perdi bastante com isso. Uma certa juventude. Mas não lamento ter me esforçado para carregar o piano esses anos, e agora estar um pouco cansado.
O legado do rock para mim é o legado de gerações que moldaram as gerações atuais. Gerações que se opuseram ao stablishment, em discurso e ação, mas que também erraram um pouco, ao não saberem lidar com o próprio legado que criaram. São muitos os caras que gerações do rock que criaram filhos bem mais conservadores ou que não souberam passar a eles a liberdade experimentada pela expressão pura de bandas que deixaram sua marca no estilo do século XX - e em parte do século XXI.
Hoje vejo muitos roqueiros gostando de bandas mais recentes com dificuldade de entender o que afinal o rock clássico significou no contexto geral - na história, para os seus pais, em suas vidas. Muitos que preferem se enclausurar em estilos determinados, e que não apreciam aqueles tiozinhos - como eu - cujas referências são passadas e mesmo mortas. Mas há algo que se mantém. Não sei bem o que é, realmente. Mas sinto que existem códigos compartilhados entre todos nós.
O Lou Reed, por exemplo, não foi um cara muito comum. Ele não gostava dos Beatles, gostava de Cecil Taylor, e experimentava com gêneros. Ele pode não agradar a todos. Mas ele tem, em seu jeito de ser, algo que os outros também reconhecem. Pouco importa que muitos não gostem de Lulu, que fez com o Metallica. Há no rock em geral uma disposição ao diálogo. E isso diferencia em grande parte o gênero dos outros.
Sinto isso na geração mais nova. Uma abertura que, sem o rock, talvez não existisse. Claro que existem os tapados ou fechados em estilos mais herméticos. Mas em geral no rock a abertura ao novo predomina. Claro, há uma indisposição com o pop puro e simples. Mas quando o estilo libertário do rock permanece, todo mundo esquece.
O Rush, então, que agora vai embora, parece prenunciar uma leva de desistências. O Iron está por aí esperando para pendurar as botas (Die with your boots on), por exemplo. O Sabbath fala aqui e acolá que pode dar uma palhinha. Mas já é carta fora do baralho. Outras bandas, enfraquecidas, ainda lutam para manter a gana. Mas a velhice chega para todos. E surge a hora em que a memória é o que mais importa. Mesmo que não tenhamos feito parte dela.
O que resta para nós, então? Lamentar? Não creio. Quanto mais o tempo passa, mais percebo o quanto há por aí para tentar entender. Para tentar me descobrir em tempos que vivi bem vividos ou que deixei passar. Quanto posso descobrir em legados de bandas cujos vocalistas e líderes foram embora. Como posso, por meio do rock, ainda tentar entender.

Lembro-me bem de passagens na história do Bob Dylan em que ele mais parecia um sujeito inconformado em busca de um som qualquer a expressar sua forma de ver o mundo. Um sujeito que permanecia na estrada, ainda tentando entender. Ou captar aquele som de vida no meio do caminho vazio. Como em muitas estradas por aí. O som está dentro de nós. Basta tentarmos senti-lo. Rock para mim é isso. Perceber para onde a brisa vai. E ir junto.
Como uma espécie de Robert Johnson na encruzilhada.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 Rush anuncia mais um show em São Paulo para janeiro de 2027
Rush anuncia mais um show em São Paulo para janeiro de 2027 Spiderweb - supergrupo de prog com membros do Genesis, Europe e Angra lança single beneficente
Spiderweb - supergrupo de prog com membros do Genesis, Europe e Angra lança single beneficente As cinco melhores músicas do Iron Maiden, segundo o Loudwire
As cinco melhores músicas do Iron Maiden, segundo o Loudwire O "Big Four" das bandas de rock dos anos 1980, segundo a Loudwire
O "Big Four" das bandas de rock dos anos 1980, segundo a Loudwire O álbum clássico do Scorpions cuja capa impactou Max Cavalera
O álbum clássico do Scorpions cuja capa impactou Max Cavalera As cinco piores músicas do Iron Maiden, segundo o Loudwire
As cinco piores músicas do Iron Maiden, segundo o Loudwire Nazareth é a primeira atração confirmada do Capital Moto Week 2026
Nazareth é a primeira atração confirmada do Capital Moto Week 2026 Bootleg lendário do Pink Floyd gravado por Mike Millard será lançado oficialmente em CD no RSD
Bootleg lendário do Pink Floyd gravado por Mike Millard será lançado oficialmente em CD no RSD Slayer e Papa Roach são anunciados como headliners do festival Rocklahoma
Slayer e Papa Roach são anunciados como headliners do festival Rocklahoma O clássico do Metallica que James Hetfield considera "fraco": "Um enorme sinal de fraqueza"
O clássico do Metallica que James Hetfield considera "fraco": "Um enorme sinal de fraqueza" Anika Nilles sobre Neil Peart; "Ele definitivamente não era só um baterista de rock"
Anika Nilles sobre Neil Peart; "Ele definitivamente não era só um baterista de rock" Iggor Cavalera revela o tipo de som que faz sua cabeça atualmente
Iggor Cavalera revela o tipo de som que faz sua cabeça atualmente Regis Tadeu volta a falar sobre Dave Murray: "Se eu contasse a história com detalhes..."
Regis Tadeu volta a falar sobre Dave Murray: "Se eu contasse a história com detalhes..." O guitarrista de rock que não saía dos ouvidos do lendário compositor de jazz Miles Davis
O guitarrista de rock que não saía dos ouvidos do lendário compositor de jazz Miles Davis As cinco piores músicas do Slayer, segundo o Loudwire
As cinco piores músicas do Slayer, segundo o Loudwire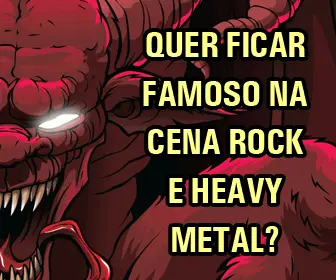
 Porque Mick Jagger e Keith Richards não são mais amigos, segundo Keith Richards
Porque Mick Jagger e Keith Richards não são mais amigos, segundo Keith Richards A banda de abertura forçada pelo Led Zeppelin a sair do palco; "não aguentaram a pressão"
A banda de abertura forçada pelo Led Zeppelin a sair do palco; "não aguentaram a pressão" O guitarrista subestimado que David Gilmour idolatra: "Faz coisas que não consigo fazer"
O guitarrista subestimado que David Gilmour idolatra: "Faz coisas que não consigo fazer"




 A única música do Rush que Anika Nilles conhecia; "Claro que eu conhecia o Neil"
A única música do Rush que Anika Nilles conhecia; "Claro que eu conhecia o Neil" Os álbuns do Rush que são os prediletos de Regis Tadeu
Os álbuns do Rush que são os prediletos de Regis Tadeu Alex Lifeson diz que Anika "virou a chave" nos ensaios do Rush; "No quinto dia, ela cravou"
Alex Lifeson diz que Anika "virou a chave" nos ensaios do Rush; "No quinto dia, ela cravou" Pacote VIP para show do Rush custa mais de 14 mil reais
Pacote VIP para show do Rush custa mais de 14 mil reais Rush está ensaiando cerca de 40 músicas para sua próxima turnê
Rush está ensaiando cerca de 40 músicas para sua próxima turnê Geddy Lee comenta tour que Rush fará no Brasil em 2027
Geddy Lee comenta tour que Rush fará no Brasil em 2027 Família de Neil Peart apoia a turnê "Fifty Something", que marca o retorno do Rush
Família de Neil Peart apoia a turnê "Fifty Something", que marca o retorno do Rush Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha
Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha


