Em que consiste realmente o legado de um roqueiro?
![]() Por Rodrigo Contrera
Por Rodrigo Contrera
Postado em 31 de janeiro de 2018
Não saberia dizer quando é que comecei a me entrosar com o rock. Mas lembro que tudo começou na minha adolescência, na verdade puberdade, quando tinha dificuldade em aceitar o fundamento da autoridade em gente que me irritava. Quando comecei a pensar por conta própria.
Claro que tudo isso se deu em grande parte pelo som. Pelas guitarras, e pela pose que eu via em algumas bandas. Pelo jeito rebelde e aparentemente inconsequente. Era algo que me propunha uma mensagem de liberdade, de ausência de sentimentos piegas, e de uma certa entronização do que parecia tosco ou mesmo de mau gosto. Mulheres gostosas, posturas agressivas, ausência de justificativas para coisas que se mostravam claramente falsas.
Isso foi na época da ditadura, quando os militares começavam a se desapegar do poder, e quando o poder civil começava a assomar. Lembro-me bastante bem de quando ocorreu o comício das Diretas. Tudo parecia uma espécie de prenúncio de uma liberdade que dava frisson mas também que causava um certo medo.
O rock em si parece exalar essa aura de liberdade e inconsequência. Mas também parece nos convencer de que as camadas para a sensibilidade que vale a pena são por um lado mais sutis e por outro menos afrescalhadas. O amor parece menos restrito a categorias ou pensamentos inefáveis, com o rock. Parece algo mais patente para qualquer um. E também mais escrachado.
Atualmente, várias bandas e artistas estão parando, e alguns morrendo. Quando vemos eles irem embora, pensamos no que ficou deles em nós. E muitas vezes restaram-nos apenas histórias - mas também certos exemplos. Tanto que muito do ideal do rock não está apenas no rock. Mas na história de mulheres e homens do jazz que já irradiavam esse predomínio da liberdade. Como Billie Hollyday. Ou como Bird. Ou mesmo Elvis.
Mas os artistas que hoje estão parando parecem diferentes. Parecem mais toscos, em grande maioria. Ou mais complexos, como um Leonard Cohen, quase um trovador meio medieval e folclórico. Mas para quem gosta de rock esses caras todos têm algo em comum. Uma espécie de lirismo mais tosco e mais contido que nos pega pela mão.
Venho escrevendo artigos e textos mais curtos (outros mais alentados) sobre gente a mais diversa. Um deles é sobre uma banda de blues-rock brasileira, a Saco de Ratos, do Mário Bortolotto. Tenho ainda coisas escritas a rodo sobre Lou Reed. Mas pretendo também lançar algo sobre o finado Elliot Smith. E outro material sobre KT Tunstall.
Há quem questione porém meus gostos musicais de outra ordem. Como no caso do Guilherme Arantes. Ou mesmo do Elton John. Mas, venhamos e convenhamos, basta ouvir esses caras, especialmente o último, para percebermos a ligação entre todos esses sujeitos, a maioria já falecidos, aposentados ou quase. Uma questão de geração que mostrou o fim de uma era - dos ideais estabelecidos - e o começo de uma outra, da contestação. Pois todos eles, para mais ou para menos, contestam os valores que as instituições nos fazem crer que devam ser seguidos como privilégio de autoridades.
É curioso, nesse sentido, que muitos roqueiros ou gente de cepa similar sejam religiosos - mas não sigam religiões. Que muitos sejam místicos - mas prefiram andar sozinhos. Que muitos detenham autoridade de conhecimento - mas que relutem ensinar. Que muitos até assumam o legado de instituições - mas que se comportem com rebeldia. Porque é como se todos quiséssemos, mais que seguir algo, trilhar apenas o nosso caminho.
Eu mesmo, se sou católico, e até leio trechos da Bíblia na missa de domingo, não consigo me sentir bem diante de discursos de fé que apelam a sentimentos de superstição ou desespero. Não me aproximo dos monsenhores para beijar mãos. Me afasto do centro do palco e prefiro ficar com minha fé à distância, olhando muito do que vejo com solene desconfiança. Algo que outros roqueiros preferem fazer com mais desprezo. Ou mesmo dando as costas, assumindo a irrelevância do instituído.
O Leonard Cohen ganhou o Grammy por performance de rock e sabemos que ele o merecia. Mas que no fundo não estaria muito nem aí com isso. Se ele, em vida, perdera quase tudo e se bem no fim da vida parecia ainda um trovador meio monge trapista apenas com um bom domínio das letras, seduzindo gente que sequer imaginava o que ele havia passado, o que poderia auferir de um troféu por uma indústria que no fundo apenas o tolerava? Não à toa o Bob Dylan levou tanto tempo para tolerar levar o Nobel de Literatura.
Quando eu passo num bar, sempre reconheço quem está ali bem à vontade. Quase sempre consigo trocar ali algumas frases e perceber a beleza por detrás de coisas bastante medíocres e medonhas, assim como por detrás da figura de um cachorro velho e feio prestes a passar desta para melhor. Pois é como se nós, roqueiros, estivéssemos sempre a postos para ver o imponderável. E para entender que o passo a seguir pode ser apenas o último.
Roqueiro, para falar a verdade, nunca sente saudade. Lamenta o passar do tempo, mas recorda o momento de êxtase como se ele continuasse ou como se fosse seu último. Roqueiro vive seu presente e a autoridade para ele está sempre na desconfiança. Como se fosse um Villon à espera do novo roubo. Ou um Lacenaire condenando o mundo por seu destino. E gozando de sua cara, à espera de uma zoeira ainda maior.
Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 O lendário álbum dos anos 1970 que envelheceu mal, segundo Regis Tadeu
O lendário álbum dos anos 1970 que envelheceu mal, segundo Regis Tadeu Tobias Forge explica ausência da América do Sul na atual tour do Ghost
Tobias Forge explica ausência da América do Sul na atual tour do Ghost A música mais ouvida de cada álbum do Megadeth no Spotify
A música mais ouvida de cada álbum do Megadeth no Spotify Nenhuma música ruim em toda vida? O elogio que Bob Dylan não costuma fazer por aí
Nenhuma música ruim em toda vida? O elogio que Bob Dylan não costuma fazer por aí Ex-Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks retoma clássicos da fase áurea em nova turnê
Ex-Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks retoma clássicos da fase áurea em nova turnê 10 clássicos do rock que soam ótimos, até você prestar atenção na letra
10 clássicos do rock que soam ótimos, até você prestar atenção na letra Bruce Dickinson cita o Sepultura e depois lista sua banda "pula-pula" favorita
Bruce Dickinson cita o Sepultura e depois lista sua banda "pula-pula" favorita As 11 melhores bandas de metalcore progressivo de todos os tempos, segundo a Loudwire
As 11 melhores bandas de metalcore progressivo de todos os tempos, segundo a Loudwire Bruce Dickinson sobe ao palco com o Smith/Kotzen em Londres
Bruce Dickinson sobe ao palco com o Smith/Kotzen em Londres Os 5 álbuns que podem fazer você crescer como ser humano, segundo Regis Tadeu
Os 5 álbuns que podem fazer você crescer como ser humano, segundo Regis Tadeu A banda dos EUA que já tinha "Black Sabbath" no repertório e Oz Osborne como baixista em 1969
A banda dos EUA que já tinha "Black Sabbath" no repertório e Oz Osborne como baixista em 1969 A opinião contundente de Andre Barcinski sobre "Lulu", do Metallica; "Tudo é horrível"
A opinião contundente de Andre Barcinski sobre "Lulu", do Metallica; "Tudo é horrível" Ozzy foi avisado pelos médicos que corria risco de morrer se fizesse o último show
Ozzy foi avisado pelos médicos que corria risco de morrer se fizesse o último show Por que a voz de Bruce Dickinson irrita o jornalista Sérgio Martins, segundo ele mesmo
Por que a voz de Bruce Dickinson irrita o jornalista Sérgio Martins, segundo ele mesmo Três "verdades absolutas" do heavy metal que não fazem muito sentido
Três "verdades absolutas" do heavy metal que não fazem muito sentido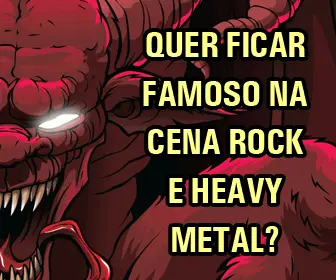
 Max Cavalera cortou o cabelo para ganhar cópia de clássico do Metallica
Max Cavalera cortou o cabelo para ganhar cópia de clássico do Metallica Fim da linha: 12 bandas que encerraram as atividades após a morte de algum integrante
Fim da linha: 12 bandas que encerraram as atividades após a morte de algum integrante "Don't Break the Oath", 40 anos de um clássico do black metal
"Don't Break the Oath", 40 anos de um clássico do black metal




 Arch Enemy, o mistério em torno da nova vocalista e os "detetivões" do metal
Arch Enemy, o mistério em torno da nova vocalista e os "detetivões" do metal Está na hora dos haters do Dream Theater virarem o disco
Está na hora dos haters do Dream Theater virarem o disco Será que todo fã é um idiota? Quando a crítica ignora quem sustenta a música
Será que todo fã é um idiota? Quando a crítica ignora quem sustenta a música Desmistificando algumas "verdades absolutas" sobre o Dream Theater - que não são tão verdadeiras
Desmistificando algumas "verdades absolutas" sobre o Dream Theater - que não são tão verdadeiras Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha
Confirmado: Axl Rose gosta de sorvete de baunilha



