Duran Duran: cocaína, groupies e a fama em biografia
![]() Por Nacho Belgrande
Por Nacho Belgrande
Fonte: Playa Del Nacho
Postado em 04 de setembro de 2012
Do livro autobiográfico ‘In The Pleasure Groove’ de John Taylor, do DURAN DURAN e do NEUROTIC OUTSIDERS, ainda sem título em português.
[...] É uma noite de segunda-feira, no Brighton Dome, em 1981, duas semanas antes de nosso terceiro single, ‘Girls On Film’, está pra sair. Faz uma semana que completei 21 anos. As luzes se apagam e a cortina começa a se erguer. Mas algo estranho está acontecendo.
Nenhum de nós consegue ouvir à música. Só o som da plateia. Ficando cada vez mais alto. Maior. Cantos, gritos. Daí entramos no palco. Um frisson de medo. E a cortina sobe.
O poder de nossos instrumentos, amplificado por cabeçotes que iam até o telhado, não é páreo para a avassaladora força da energia sexual adolescente que emana até nós vinda do auditório. Eu posso senti-la tomar controle de meus braços, minhas pernas, meus dedos. É incessantes, as ondas ficam atingindo o palco.
Não há modo de estarmos sendo ouvidos, mas isso não importa. Ninguém está prestando atenção pra isso mesmo. Roupas rasgadas. Desmaios e macas. Colapsos nervosos. O frenesi é contagiante. Nós nos tornamos ídolos. Sujeitos de idolatria.
Havia certa escassez de casas a preços acessíveis nos anos cinquenta, então a nova casa de meus pais em Hollywood, setor Sul de Birmingham, era perfeita. Era uma casa com dois cômodos em baixo e dois em cima com paredes chapiscadas abaixo das janelas de cima.
A sala de estar era onde comíamos, assistíamos televisão, sentávamos, tudo. O outro cômodo de baixo, o ‘quarto da frente’, era onde se guardava o álcool.
O número 34 da Simon Road tinha sua própria garagem, onde meu pai passava semanas brincando com seu carro. Havia um pequeno jardim na frente e outro um pouco maior no lado de trás. Em junho de 1960, minha mãe me deu a luz no Sorrento Maternity Hospital em Solihull. Meus pais me chamaram de Nigel. Meu segundo nome era John.
Eu conheci Nick Bates no inverno de 1973 quando eu tinha 13 anos e ele tinha 11. Nick já tinha ido a alguns shows – sim, esse garoto era precoce – Gary Glitter e Slade. Mas Bowie era rei naquele tempo, e com mérito.
Nick e eu nos vestíamos muito bem sem precisar de muito encorajamento, e nós dois amávamos as roupas, os cabelos e a maquilagem da era glam-rock britânica. A direção sartorial de Bryan Ferry estava surtindo efeito: os garotos estavam vasculhando o guarda-roupa do pai atrás de paletós como aqueles que Humphrey Bogart vestira em ‘Casablanca’. Os do meu pai caíam direitinho em mim.
Mas havia o aspecto transexual do glam, e a gente acabava misturando o terno com blusas de mulher. Nas lojas da rede British Home Stores, no centro da cidade, havia um andar enorme repleto de ternos de duas peças para mulheres. Alguns daqueles paletós eram divinos, e serviam em Nick e em mim. Combine isso com um lenço, talvez de estampa de pele animal da Chelsea Girl, e já era.
‘Você não vai sair vestido assim?!?’ nossos pais gritavam.
‘Não se preocupe com isso, pai’, Nick dizia pro pai dele enquanto eu passava um pouco de gloss no banheiro deles.
‘Ah, deixe eles em paz, Roger’, a mãe dele, Sylvia, dizia. ‘Eles estão apenas se divertindo. ’
Depois de dizer a um funcionário cético da escola de carreiras que eu queria ser um ‘pop star’, eu me matriculei na Escola Politécnica de Arte e Desenho de Birmingham para um curso de 12 meses.
Pra mim, ir pra escola de arte era inspirado mais por meus heróis musicais: John Lennon, Keith Richards, Bryan Ferry. Eu esperava conhecer outras mentes que se sintonizassem com a minha, tal como eles haviam conhecido.
Assistir ao The Human League pela primeira vez foi a virada. Nick e eu os vimos abrindo pra Siouxsie and the Banshees no Mayfair Ballroom no shopping Bullring e assistimos a tudo em silêncio, maravilhados. Eles não tinham baterista. Nem guitarra. Eles tinham três sintetizadores e uma bateria eletrônica ao invés disso.
Daí a mão de Nick, Sylvia, fez um investimento de 200 libras no primeiro sintetizador Wasp a chegar em Birmingham, comprado na Woodroffe Music Store. Nós também compramos uma bateria eletrônica Kay a 15 libras. Tinha uns presets descritos como ‘mambo’, foxtrot’, ‘slow rock’ e ‘valsa’.
Com Nick controlando os teclados, um amigo da escola de arte cantando e no baixo, e eu na guitarra, nós fizemos nossa primeira gravação em fita cassete no cômodo acima da loja de brinquedos da mãe de Nick. O ‘álbum’ que resultou disso se chamava ‘Dusk And Dawn’.
Eu tinha orgulho dessa primeira empreitada e decidi apresentá-la como meu trabalho de conclusão de curso na escola. Cada estudante tinha um espaço no saguão principal para expor os frutos de seu trabalho. Eu cobri minha parede com um saco de lixo preto e coloquei a fita na frente dele.
Teve um certo barulho quando o corpo docente chegou até minha apresentação. O professor Grundy pegou a fita com cuidado.
Grundy: ‘E o que seria isso, exatamente?’
Eu: ‘É o que tenho feito nos últimos seis meses. ’
Grundy: ‘E o que você espera fazer com isso?’
Eu: ‘Assinar um contrato.’
Grundy: ‘Isso não tem muito a ver com seu curso, tem?’
Eu: ‘E por que deveria? Isso é arte porque eu digo que é. ’

Grundy: ‘Bem, fico feliz que você tenha aprendido algo em seu tempo aqui, Nigel. ’
Foi meu último dia na academia.
No encarte do cassete, eu apareço sob meu nome de batismo, Nigel. Logo depois, eu decidi que um pop star soava melhor como John Taylor do que como Nigel Taylor. Eu estava de saco cheio de Nigel fazia anos. Fui muito zoado por esse nome. Naquele quadro do Monty Python, ‘Upper Class Twit Of The Year’, o maior otário de todos era chamado de Nigel. Nigel tinha que ir embora. Mas John – Johnny – era um roqueiro.
Era mais do que escolher um pseudônimo. Eu não queria ser chamado de Nigel por ninguém: a banda, meus amigos, minha família. Demoraria anos até que minha mãe aceitasse o plano de John.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Nick e eu éramos um só nessa linha de pensamento. No caso dele era o sobrenome, Bates, que destoava. Rhodes parecia ter a mistura exata de cultura alta e baixa, tal como emanava do empresário do The Clash, Bernie, e da sacerdotisa da moda, Zandra.
Simon Le Bon era um estudante de teatro alto e eloquente da Universidade de Birmingham. Ele veio nos ver ensaiar carregando um caderno azul com letras e ideias para músicas e eles escutou enquanto nós tocávamos, fazendo anotações. Daí ele se levantou, e com seu 1m88, agarrou o microfone, e começou a cantar.
Eu escrevi em meu diário aquela noite: ‘Finalmente o frontman! O astro está aqui!’
Com Simon de vocalista, a formação estava completa: Andy Taylor na guitarra, Roger Taylor na bateria, Nick Rhodes nos teclados. E eu, no baixo.

Nós acertamos um show nas luzes de neon e de MirrorFlex do Rum Runner Nightclub, de Birmingham. Na quarta-feira, 16 de julho de 1980 – nosso primeiro show.
Simon se dirigiu à plateia: ‘Somos o Duran Duran, e queremos que vocês dancem com nossa música quando a bomba atômica explodir. Essa música é Late Bar. Nós a escrevemos para que vocês dancem. ’ Roger mandou ‘1-2-3-4’ e a gente começou.
Olhando pras fotos daquele primeiro show, eu fico atônito com o quão eclética e ultrajante aquela cena era. Todo mundo tinha tingido, cortado ou raspado seu cabelo. A maioria usava maquilagem. Bem padrão para uma noite de terça em 1980.
Turnês e nosso primeiro disco logo vieram. As cartas dos fãs. Nós nos reuníamos no Rum Runner à tarde e sentávamos ali fazendo mais dever de casa do que jamais tínhamos feito na escola, assinando fotos e escrevendo respostas pras cartas.

Os fãs fizeram algumas coisas bem loucas ao longo dos anos, mas a minha favorita foi a da garota de Atlanta, que estava em uma coletiva de imprensa. Eu estava resfriado, e assoando o nariz em lenços descartáveis, e os jogando em uma cesta debaixo da mesa.
Na outra vez que chegamos à cidade a moça me intimou em outra aparição em público: ‘Eu fui a moça que pegou seu resfriado… depois que você saiu da sala de imprensa, eu roubei seus lenços usados. Eu queria pegar o seu resfriado.’
Eu tinha sido um nerd na escola, nunca tinha tido uma namorada séria. Agora, eu só tinha que piscar para uma mulher num lobby de hotel, na coxia, ou na festa da gravadora, e ter companhia até a manhã seguinte.

Então qual é o problema, você pode perguntar? Bem, o problema é – e eu não descobri isso até que eu tivesse quase 40 anos de idade – que há algo em um encontro íntimo dessa natureza com alguém que você mal conhece que açoita o espírito. Você quer aquilo, mas fica a sensação de que não é certo. E quando você começa a fazer isso noite após noite, semana sim, semana também, suas ideias sobre amor e sexo começam a ficar distorcidas.
Em turnê, eu aprendi que as mulheres gostavam de usar drogas comigo. Meu horror de quartos solitários de hotel significava que eu poderia ir a qualquer extremo para evitar dormir sozinho neles. Eu era ídolo de milhares de pôsteres em paredes, mas o medo da solidão me deixou viciado em cocaína.

Pular na cama como Johnny, o astro pornô, não é fácil como você pode imaginar. Você se sente acuado. Pelo menos eu me sentia. Talvez fosse algum resíduo da culpa católica: Ou simplesmente decência? As drogas tiraram todas essas dúvidas. [...]
Algo de absoluta necessidade para qualquer músico que excursiona é o itinerário. Geralmente chega no último dia de ensaio. E lista todo mundo que está na equipe, os telefones pra se ligar quando em apuros, e daí uma descrição de página por página dos destinos.
No canto inferior esquerdo de cada página da programação para o trecho da turnê nos EUA havia um número, geralmente 18, 21 ou 20. Passaram-se meses até que me contassem o que era: os números se referiam á idade legal para prática de sexo consentido em cada estado da federação.

Eu presumia que os poderes de atração sobre as mulheres dos quais eu desfrutava continuariam quando eu estivesse em casa. Isso acabou não sendo o caso. Há algo sobre estar em uma banda viajante que age como afrodisíaco. Talvez seja estar numa cidade apenas por 24 horas; as garotas querem que você seja rápido.
Na Inglaterra, meu agente Rob e eu ficávamos no zero a zero na maioria das noites. A gente começava a noite cheirando a loção pós-barba, laquê e otimismo, mas ‘nossas brechas’ se tornaram meio que uma piada. Anos depois, um conhecido dono de boite, disse: ‘A gente achava que vocês eram gays’.
Eu tinha me acostumado a viajar num ritmo estratosférico, e eu queria que aquilo nunca acabasse. Sentar na sala de estar de minha casa em Knightsbridge e assistir TV ou chamar meus amigos pra jantar era banal demais. Além disso, havia sempre um acampamento de fãs 24 horas em frente à casa urrando e batendo fotos cada vez que eu chegava em casa.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
A primeira coisa que eu ouvia quando acordava era a conversa dos fãs do lado de fora. Eu ia até a janela e olhava pelas cortinas. Se elas não sabiam que eu estava acordado, eu podia pelo menos toar um banho e me vestir sem ter que ouvir ‘Save a Prayer For Me Now, John’ vindo da rua.
A loucura sempre estava a um mícron abaixo da superfície, mantida de perto pelo nosso senso de humor compartilhado. Somente Andy fazia referência de vez em quando ao azedume no qual ele sentia que estava entrando, de que éramos ratos em uma gaiola, sujeitos aos caprichos dos empresários, dos agentes e consultores corporativos. Éramos patrocinados pela Coca-Cola.
Eu passei dos limites quando comecei a ficar chapado no palco. Eu sempre tinha ficado sóbrio durante o show, já que queria dar o melhor de mim. Mas agora eu mal podia esperar pra que os shows acabassem. Eu queria reganhar o controle de minha vida, e me drogar fazia com que eu me sentisse assim.

No fim de cada set principal, eu ia pros banheiros do palco cheirar até 100 dólares de cocaína através de um canudo de uma nota de 100 dólares. Era tão ‘alta roda’, tão ‘astro do rock’.
E eu dizia a mim mesmo que ela me dava a capacidade de absorver toda a incrível energia que a plateia estava me mandando. Eu era um Mestre do Universo. Pelo menos parecia isso. Quando o bis acabava, eu estava pronto pra mandar ver.

Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 Rush fará cinco shows no Brasil em 2027; confira datas e locais
Rush fará cinco shows no Brasil em 2027; confira datas e locais O lendário álbum dos anos 1970 que envelheceu mal, segundo Regis Tadeu
O lendário álbum dos anos 1970 que envelheceu mal, segundo Regis Tadeu Tobias Forge explica ausência da América do Sul na atual tour do Ghost
Tobias Forge explica ausência da América do Sul na atual tour do Ghost Nenhuma música ruim em toda vida? O elogio que Bob Dylan não costuma fazer por aí
Nenhuma música ruim em toda vida? O elogio que Bob Dylan não costuma fazer por aí A música mais ouvida de cada álbum do Megadeth no Spotify
A música mais ouvida de cada álbum do Megadeth no Spotify As duas vozes que ajudaram Malcolm Young durante a demência
As duas vozes que ajudaram Malcolm Young durante a demência Ex-Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks retoma clássicos da fase áurea em nova turnê
Ex-Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks retoma clássicos da fase áurea em nova turnê Bruce Dickinson sobe ao palco com o Smith/Kotzen em Londres
Bruce Dickinson sobe ao palco com o Smith/Kotzen em Londres As 11 melhores bandas de metalcore progressivo de todos os tempos, segundo a Loudwire
As 11 melhores bandas de metalcore progressivo de todos os tempos, segundo a Loudwire Bruce Dickinson cita o Sepultura e depois lista sua banda "pula-pula" favorita
Bruce Dickinson cita o Sepultura e depois lista sua banda "pula-pula" favorita Por que a voz de Bruce Dickinson irrita o jornalista Sérgio Martins, segundo ele mesmo
Por que a voz de Bruce Dickinson irrita o jornalista Sérgio Martins, segundo ele mesmo A banda dos EUA que já tinha "Black Sabbath" no repertório e Oz Osborne como baixista em 1969
A banda dos EUA que já tinha "Black Sabbath" no repertório e Oz Osborne como baixista em 1969 O grande erro que Roadie Crew e Rock Brigade cometeram, segundo Regis Tadeu
O grande erro que Roadie Crew e Rock Brigade cometeram, segundo Regis Tadeu A melhor música da história do punk, segundo o Heavy Consequence
A melhor música da história do punk, segundo o Heavy Consequence Os 5 álbuns que podem fazer você crescer como ser humano, segundo Regis Tadeu
Os 5 álbuns que podem fazer você crescer como ser humano, segundo Regis Tadeu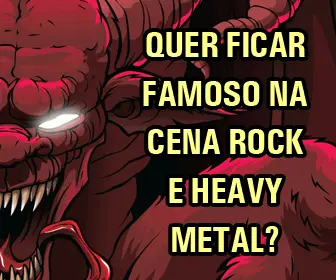
 A música dos Beatles que "inventou Jimi Hendrix", conforme George Harrison
A música dos Beatles que "inventou Jimi Hendrix", conforme George Harrison Duff McKagan: Anestesias não funcionam no baixista
Duff McKagan: Anestesias não funcionam no baixista O que significa "O Verme Passeia na Lua Cheia" do Secos e Molhados
O que significa "O Verme Passeia na Lua Cheia" do Secos e Molhados




 O clássico do rock nacional inspirado em Duran Duran que tinha o refrão muito ruim
O clássico do rock nacional inspirado em Duran Duran que tinha o refrão muito ruim
