Lou Reed - NYC Man (2003): Um passeio pelo nosso mundo
![]() Por Rodrigo Contrera
Por Rodrigo Contrera
Postado em 03 de fevereiro de 2018
Visitar a obra de Lou Reed é, ao menos em parte, avançar em caminhos tortuosos, desconhecidos mas fascinantes. Escrevi estes pequenos trechos como parte de uma avaliação do CD que estou postando aos poucos aqui.
Vizinhanças
Não conheço Nova Iorque. Se eu pudesse, iria para lá só para fazer este artigo. Mas não tem como. O mais próximo que dali cheguei foi em Orlando, na Flórida. E o mais próximo que estive de ver a urbanidade norte-americana foi em Los Angeles. Mas conheço São Paulo. Pude frequentar o centro, a região de Santa Cecília, Barra Funda, Pacaembu, Pompeia, Paulista, Jabaquara, Saúde, Santa Cruz e Moema desde garoto até a maturidade.
Uma cidade deixa marcas em nós. Este CD é NYC Man, algo de que Lou se orgulha e que de certa forma o define. Com toda a sujeira, bagunça, estranheza e diversidade reinante, que vem conosco, a contragosto ou não. Lou, neste caso, aposta em tudo o que é pequeno - porque é grande. No estado atual, no momento atual, no amor passado, sabendo que só eles é que permanecerão.
Lou comenta, num vídeo, que ele tem medo de tudo, ou tinha. Mas que não tinha medo de Nova Iorque. Pode parecer mera idiossincrasia, mas quem se destina a viver em lugares que conhece em seus mínimos detalhes sabe o que é isso. Sabe o que é ter medo de tudo, mas não sentir medo quando se fica tomando café num muquifo da Rua Augusta. Sabe o que é ter medo das pessoas, mas não de ser abordado por uma no meio da Avenida Paulista.
Neste caso, Lou transforma sua realidade em mito. Em ícone e faturas a serem lembradas - ou esquecidas (como Rachel, sua antiga paixão trans). Faturas que os outros encaram para si, como se o fossem - e não são. São momentos de um sujeito que viveu intensamente, e que deixou sua marca na ausência de vontade de sê-lo. Fácil entronizar o Lou como o homossexual que amava de verdade. Ou como o estudioso de Letras que virou referência de geração.
Neste caso, como vai ficando claro, o que importa é a eternidade do fugaz. A eternidade de momentos que gente como ele vê todos os dias, e noites. A eternidade de sensações de fuga que ficam para sempre, e que nos conduzem até no jeito de olhar. A eternidade do que foi mas que ficou para contar história - como é o que tudo vira, no fim das contas. Apenas isso. No final de sua vida, em sua última entrevista, ele parecia cansado, porém. Como se os fãs é que vivenciassem a eternidade do que ele tornou eterno, e não mais ele. Como se tivesse de se esforçar em captar a verdade naquilo que ainda permanecia lá.
Curioso, porém, que tentemos, quando viajamos, ver o passado novamente. E que não percebamos tão facilmente o presente que pode virar eterno. No meu caso, um dos motivos para estudar aqui um pouco o Lou é que ele me remete a paisagens outras, que não têm nada de sua época nem de suas influências. Pois apenas estamos de passagem, no fundo. E as passagens são as que no fundo permanecem. Ou que dão motivo para estudo - com Benjamin, nas passagens de Paris.
Passagens como a periferia de Los Angeles, que pude experimentar com o pulso de um Michael Mann (conheci Anaheim). Ou a periferia de Guarulhos, que vivenciei como repórter da década de 90, e que não conheço quem desenvolva graficamente. Perder-se naqueles entroncamentos da Fernão Dias ficou para sempre em minha retina. Lou tem Coney Island, sua residência (imagino que bem central), o Gerald Thomas uma casa às margens do Hudson.
Confluências
Numa Nova Iorque em meados dos 60 que iria causar furor - não só pelo Velvet Underground, claro -, a arte passava por mudanças e desafios. Havia o flower power, havia o rock efervescente, mas havia também uma música erudita em crise e uma música contemporânea com diversos expoentes que não pareciam dialogar com ninguém. Hoje o pessoal se lembra de Frank Zappa, e de sua fixação em Varese. Mas havia outros, havia Cage, com seus experimentos em diversos meios, e havia Xenakis e muitos outros, que pareciam vir de outros mundos.
Nesse contexto, alguém deve ter pensado em juntar as influências todas. Mas como fazer isso, e como fazer com que ficasse convincente? Porque o punk não existia ainda, levaria ainda quase uma década, mas a energia dele já reinava. Seria preciso alguém que transitasse em ambos universos, ou que quisesse isso, ou que não quisesse se limitar ao mundo estupidificado desses que escrevem e musicam aquilo que os outros querem ouvir. Ou seja, alguém distante do marketing, que estivesse pouco se lixando para qualquer outra coisa, e que só quisesse a música arte, o rock arte, mas mesmo assim que quisesse dialogar com algo mais. Com uma multidão que ainda não existia.
Hoje parece quase mania associar um Lou Reed tardio a uma espécie de leva de gente mais paz e amor - algo que ele detestava. Ocorre que não seria assim, juntando gente boa, apenas, que a música iria assumir outro toque. Porque Lou, que trabalhava para uma editora musical compondo músicas a rodo, em Coney Island, era realmente um sujeito bastante selvagem. Formado por Syracuse, não lhe agradava certo tipo de situação forçada, mas ele mesmo posava. Mas posava SENDO. E mostrava qualidade, ao mesmo tempo em que queria algo com rock mas que suplantasse o rock. Para que disso saísse algo seria necessário que outras influências lhe chegassem em mãos. E isso veio especialmente com John Cale, que havia feito cursos com músicos de alto calibre (como Xenakis) e que transitava por outras esferas (como o teatro experimental).
Quem convive com o ambiente artístico sabe como, em muitos lugares que possuem algo ainda para se orgulhar, os frequentadores parecem sempre estar às voltas com a busca pelo novo. Ora entronizam um ou outro, ora identificam questões relevantes, aqui e acolá, mas sempre há uma ênfase na experimentação. No e se...? Pois bem. Nesse e se...?, Cale encontrou Lou Reed e foram aos poucos moldando uma fórmula que não iria dar certo comercialmente, mas que iria influenciar. Pois outros estavam de olho, e queriam navegar naquela corrente. Na perspectiva do novo. Hoje, isso é passado. E por causa disso este meu trabalho é mais de museu do que qualquer outra coisa. A arte nova está sempre em outro lugar.
Transgressão
Todos sempre comentam a contribuição que o Velvet Underground deu para o rock e para a música de todo o mundo. Nada de desprezar. Mas, venhamos e convenhamos, havia algo mais ali. Se Lou Reed corporificava uma certa transgressão, inclusive física, ela transpassava sim, no rock, mas ia além. Sabemos que Cale saiu do Velvet em parte pela vontade de domínio (diríamos, de poder) do Lou. Por outro lado, muito da transitoriedade do Velvet adveio também do fato de que o grupo foi catapultado por outra gente - entendamos Warhol - que se preocupava com outros âmbitos, mais experimentais. Por outro lado, o próprio Lou não era muito flor que se cheirasse, entrando em conflito com vários membros do grupo, e se envolvendo em agressões contra suas mulheres posteriormente.

Por outro lado, o Lou não é tão lembrado hoje por causa disso. Lembramos de suas melhores faixas em Transformer, algumas das quais comentarei - e já cometei - aqui. Lembramos de sua conversão a um sentimento mais plácido com respeito à vida, quando ia envelhecendo (morreu com 71 anos). Lembramos de sua contribuição à poesia e de suas parcerias mais tardias com gente ainda mais experimental. E mesmo de seu casamento com a Laurie Anderson, outra luminar mais experimental e intelectual. Mas esquecemos um pouco de suas provocações, por meio de faixas agressivas, que expressavam um descolamento do paz e amor, é claro, mas, mais ainda, uma certa e inevitável vontade de se impor pelo absurdo da força - da música e da palavra.
 Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Rogerio Antonio dos Anjos | Luis Alberto Braga Rodrigues | Efrem Maranhao Filho | Geraldo Fonseca | Gustavo Anunciação Lenza | Richard Malheiros | Vinicius Maciel | Adriano Lourenço Barbosa | Airton Lopes | Alexandre Faria Abelleira | Alexandre Sampaio | André Frederico | Ary César Coelho Luz Silva | Assuires Vieira da Silva Junior | Bergrock Ferreira | Bruno Franca Passamani | Caio Livio de Lacerda Augusto | Carlos Alexandre da Silva Neto | Carlos Gomes Cabral | Cesar Tadeu Lopes | Cláudia Falci | Danilo Melo | Dymm Productions and Management | Eudes Limeira | Fabiano Forte Martins Cordeiro | Fabio Henrique Lopes Collet e Silva | Filipe Matzembacher | Flávio dos Santos Cardoso | Frederico Holanda | Gabriel Fenili | George Morcerf | Henrique Haag Ribacki | Jorge Alexandre Nogueira Santos | Jose Patrick de Souza | João Alexandre Dantas | João Orlando Arantes Santana | Leonardo Felipe Amorim | Marcello da Silva Azevedo | Marcelo Franklin da Silva | Marcio Augusto Von Kriiger Santos | Marcos Donizeti Dos Santos | Marcus Vieira | Mauricio Nuno Santos | Maurício Gioachini | Odair de Abreu Lima | Pedro Fortunato | Rafael Wambier Dos Santos | Regina Laura Pinheiro | Ricardo Cunha | Sergio Luis Anaga | Silvia Gomes de Lima | Thiago Cardim | Tiago Andrade | Victor Adriel | Victor Jose Camara | Vinicius Valter de Lemos | Walter Armellei Junior | Williams Ricardo Almeida de Oliveira | Yria Freitas Tandel |
Claro, todos nós, com o passar do tempo - e a queda de energia pessoal - acabamos ficando mais da paz com o passar do tempo. Isso também se aplica ao Lou. Mas, nesta pequena análise dos seus Greatest Hits, é preciso que lembremos que o sujeito, em seus momentos mais memoráveis, não era propriamente um boa praça. Que era um sujeito mal-humorado, muitas vezes (até com entrevistadores brasileiros, como podemos ver no Youtube), um sujeito mal visto por seus contemporâneos, agressivo em todos os sentidos, e que não estava nem aí para as pessoas desconhecidas, de forma geral. Não que isso fale mal de si mesmo. Não fala, necessariamente. Uma coisa é a vida, outra a obra. Mas expressa claramente o tom transgressor de sua vida e de sua obra, e como hoje muitos de nós parecemos esquecer de boa parte disso. E como muitos parecem muito pateticamente se espantar com relatos de seu comportamento arredio e violento. Normal.

Lou Reed resume bem, enquanto pessoa e artista, muito do que as décadas seguintes às de seu estouro na crítica (especialmente) iriam mostrar em modelos de artistas transgressores. Mas ele nunca pretendeu se entronizar como nada. Queria viver de sua arte, por uma arte maior. Não se quis superior aos seus atos, nem buscou algo mais do que ser deixado em paz. Com a particularidade agressiva que o caracterizava. Algo à espera do conflito, para trazê-lo mais à tona. Não para trazer qualquer paz. Esta, ele tentou encontrar no tai chi e numa distância cada vez maior dos palcos.
Ficou como uma brisa no ar.

Receba novidades do Whiplash.NetWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYouTubeGoogle NewsE-MailApps



 Lenda do thrash metal alemão será o novo guitarrista do The Troops of Doom
Lenda do thrash metal alemão será o novo guitarrista do The Troops of Doom As melhores bandas que Lars Ulrich, do Metallica, assistiu ao vivo
As melhores bandas que Lars Ulrich, do Metallica, assistiu ao vivo O disco ao vivo que define o heavy metal, segundo Max Cavalera
O disco ao vivo que define o heavy metal, segundo Max Cavalera Venom anuncia novo álbum de estúdio, "Into Oblivion"
Venom anuncia novo álbum de estúdio, "Into Oblivion" O "pior músico" que Paul McCartney disse que os Beatles já tiveram
O "pior músico" que Paul McCartney disse que os Beatles já tiveram A lendária banda inglesa de rock que fez mais de 70 shows no Brasil
A lendária banda inglesa de rock que fez mais de 70 shows no Brasil Sharon Osbourne confirma Ozzfest em 2027 e quer "novos talentos" no festival
Sharon Osbourne confirma Ozzfest em 2027 e quer "novos talentos" no festival Ouça Sebastian Bach cantando "You Can't Stop Rock 'N' Roll" com o Twisted Sister
Ouça Sebastian Bach cantando "You Can't Stop Rock 'N' Roll" com o Twisted Sister Baixista conta como cantora brasileira se tornou vocalista do Battle Beast
Baixista conta como cantora brasileira se tornou vocalista do Battle Beast Robert Lowe, a voz do epic doom, anuncia turnê inédita no Brasil
Robert Lowe, a voz do epic doom, anuncia turnê inédita no Brasil Rafael Bittencourt diz que estava se reaproximando de Andre Matos antes da morte do vocalista
Rafael Bittencourt diz que estava se reaproximando de Andre Matos antes da morte do vocalista As músicas que o Iron Maiden tocou em mais de mil shows
As músicas que o Iron Maiden tocou em mais de mil shows Se Dave Murray sente tanta saudade da família, não seria lógico deixar o Iron Maiden?
Se Dave Murray sente tanta saudade da família, não seria lógico deixar o Iron Maiden? O disco do Rush que Geddy Lee diz ter sido o momento mais frustrante da banda
O disco do Rush que Geddy Lee diz ter sido o momento mais frustrante da banda A pior faixa de encerramento de um disco do Metallica, segundo o Loudwire
A pior faixa de encerramento de um disco do Metallica, segundo o Loudwire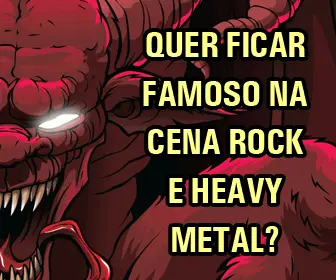
 Mark Knopfler escolhe o melhor álbum gravado pelo Dire Straits
Mark Knopfler escolhe o melhor álbum gravado pelo Dire Straits A clássica canção do Iron Maiden amada pelos fãs que para Steve Harris não é tudo isso
A clássica canção do Iron Maiden amada pelos fãs que para Steve Harris não é tudo isso Brian May diz que gravar com Axl Rose foi "uma experiência estranha"
Brian May diz que gravar com Axl Rose foi "uma experiência estranha"



 A época em que Regis Tadeu ganhava a vida fazendo covers de The Doors e Lou Reed
A época em que Regis Tadeu ganhava a vida fazendo covers de The Doors e Lou Reed Os 5 álbuns que podem fazer você crescer como ser humano, segundo Regis Tadeu
Os 5 álbuns que podem fazer você crescer como ser humano, segundo Regis Tadeu O guitarrista do panteão do rock que Lou Reed dizia ser "profundamente sem talento"
O guitarrista do panteão do rock que Lou Reed dizia ser "profundamente sem talento" Cinco razões que explicam por que a década de 1980 é o período de ouro do heavy metal
Cinco razões que explicam por que a década de 1980 é o período de ouro do heavy metal Poeira: Rockstars e as bandas que eles sonhavam fazer parte
Poeira: Rockstars e as bandas que eles sonhavam fazer parte
